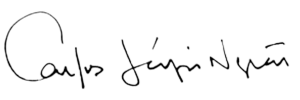Há dias em que a política deixa de ser uma disputa de ideias e passa a ser um teste de carácter. Não daqueles testes confortáveis, feitos em estúdio, com frases redondas e gravatas bem escolhidas. Testes a sério. Daqueles em que o país exige uma coisa simples — quase primitiva — e ao mesmo tempo rara: clareza.
E é precisamente nesses dias que se percebe quem tem coluna e quem tem apenas postura.
Luís Montenegro, Marques Mendes e Cotrim de Figueiredo decidiram que, na segunda volta das presidenciais, não apoiam ninguém. Disseram-no como quem anuncia um gesto de elevação, como se a neutralidade fosse uma forma superior de inteligência política, como se pairar acima do combate fosse prova de maturidade. Mas há uma diferença brutal entre estar acima da espuma e estar fora da realidade. E aqui, o gesto não tem nada de nobre. Tem tudo de calculado. Tem, sobretudo, qualquer coisa de moralmente frouxo. Porque quando a democracia é chamada à sala e alguns preferem ficar no corredor, a neutralidade não é virtude: é fuga.
O país não lhes pediu que se apaixonassem por um candidato. Não lhes pediu que renegassem o partido, nem que apagassem diferenças, nem que assinassem cheques em branco. Pediu apenas — e este “apenas” é um “apenas” pesado — que reconhecessem publicamente o óbvio: que, numa segunda volta, quando um dos lados coloca em tensão os pilares elementares do regime, e o outro os assume como fronteira inegociável, não escolher é escolher na mesma. Só que é escolher sem deixar impressão digital.
A neutralidade é sempre muito cómoda porque parece limpa. Não se suja, não se compromete, não arrisca. E é por isso que tantos a confundem com moderação. Mas moderação não é isto. Moderação é o contrário: é saber distinguir entre um adversário e uma ameaça; entre disputa legítima e erosão institucional; entre pluralismo e desfiguração. Moderação é coragem sem histeria. É firmeza sem espetáculo. É dizer “não” sem gritar. E quando ela falha, o país fica entregue ao barulho — e o barulho, como se sabe, raramente constrói alguma coisa.
Há uma frase de Sá Carneiro que atravessou décadas como se fosse uma medalha de bolso, usada tantas vezes que já quase perdeu o brilho: “Primeiro está Portugal, depois o partido e, por fim, a nossa circunstância pessoal.” A frase continua certa. O problema é que muitos a citam como quem acende uma vela à memória, mas apagam-na quando chega o momento de a viver. Porque, se Portugal vem primeiro, há instantes em que a obrigação institucional deve falar mais alto do que o ressentimento, mais alto do que o cálculo, mais alto do que o medo de perder uns pontos nas sondagens ou uns aplausos na bancada.
E há aqui um medo que ninguém assume, mas que se sente no ar como um cheiro difícil de disfarçar: o medo de desagradar aos eleitores que hoje piscam o olho ao radicalismo; o medo de parecer “mole” por escolher o bom senso; o medo de ser acusado de “dar força” ao candidato que não é o seu. Curiosamente, este medo é sempre apresentado como prudência. Mas prudência, quando se torna hábito, vira cobardia com boa imprensa. E isso é o que dói nesta história: não é a divergência, não é a diferença ideológica, não é a competição. É a deserção travestida de equilíbrio.
Diz o povo — e o povo, quando quer, faz filosofia em meia dúzia de sílabas — que “quem cala consente”. Aqui não é bem calar: é declarar neutralidade. E esse é o requinte do problema. Porque a neutralidade declarada não é ausência; é presença disfarçada. É uma escolha feita por omissão, com uma espécie de superioridade autoatribuída que, no fundo, serve apenas para proteger a pele. E quando se escolhe proteger a pele, perde-se a pele fina da dignidade.
Há momentos em que as instituições não precisam de discursos bonitos; precisam de guardas. Precisam de gente que entenda que a Constituição não é um enfeite, é a casa. E quando a casa começa a sofrer fissuras, ninguém sério se põe a discutir a cor das cortinas. Ninguém se põe a dizer que não escolhe entre a parede e o fogo. Ninguém, em consciência, olha para o incêndio e decide que a neutralidade é um bom lugar para estar.
É por isso que esta decisão de não apoiar ninguém não é apenas um gesto político. É um sinal. Um daqueles sinais que, mais tarde, os historiadores descrevem com frieza e os cidadãos recordam com amargura. O centro político, que devia ser âncora, escolhe ser espuma. Os que reclamam o título de moderados recusam a responsabilidade de serem úteis. No entanto, sem utilidade pública não há grandeza. Há apenas carreiras.
O mais irónico é que estes líderes dizem agir em nome do eleitorado, em nome do respeito pela liberdade de escolha. Mas há uma diferença entre respeitar o eleitor e abandonar o país. Respeitar o eleitor não é atirar-lhe para as mãos um dilema institucional e dizer “resolvam vocês”. Isso não é respeito: é demissão. E um líder que se demite quando devia liderar é, no mínimo, um líder a prazo.
No fundo, o que está em causa é simples e antigo como pedra: há instantes em que a democracia não precisa de gente brilhante, precisa de gente decente. Precisa de adultos. Precisa de quem seja capaz de dizer, sem teatro e sem hesitações: “Eu discordo deste homem em muitas matérias. Mas sei distinguir um adversário de uma ameaça. E sei que há uma fronteira que não se negocia.”
E quando nem isso se consegue dizer, não é neutralidade. É outra coisa. É uma forma educada de virar costas.
Termino com uma imagem que vale mais do que qualquer comunicado: quando a casa arde, ninguém pergunta se gosta do bombeiro. Não pede currículo, não pergunta o partido, não exige que o uniforme seja bonito. Chama-se quem apaga o fogo. Porque há circunstâncias em que o bom senso não é uma virtude opcional — é uma necessidade vital. E quem não o entende, por muita pose moderada que tenha, não é moderado: é apenas alguém a ensaiar a própria irrelevância.
Portugal não precisa de neutros nestes dias. Precisa de gente que não trema quando é preciso escolher o lado da casa.