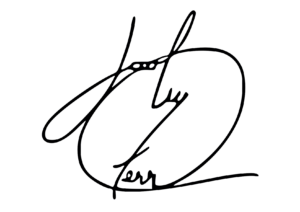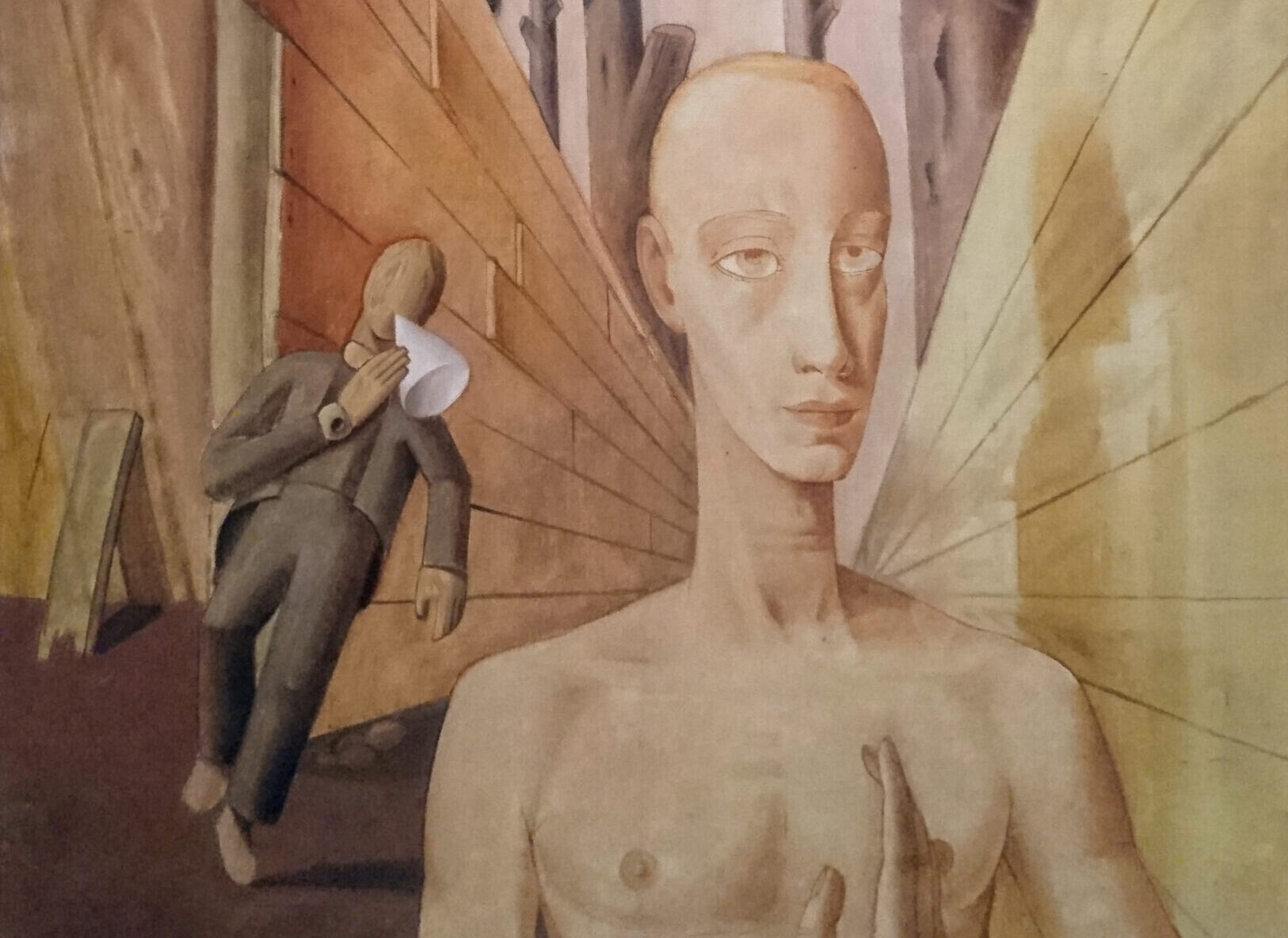A figura do Presidente da República ocupa um lugar central no imaginário político português. Eleito por sufrágio universal, direto e secreto, dotado de uma legitimidade popular própria e residente num dos mais simbólicos palácios de Lisboa, o chefe de Estado surge frequentemente como um dos rostos mais visíveis da democracia e, paradoxalmente, uma das suas figuras mais mal compreendidas.
O Presidente é inúmeras vezes visto como alguém com poder suficiente para decidir o rumo do país sozinho. Mas essa perceção entra em conflito com os limites reais do cargo, criando uma ideia simplificada e, por vezes, distorcida da realidade. É nesse desajuste entre o que se espera e o que existe que nasce aquilo que se pode chamar o mito do tigre de papel.
A ideia de que o poder presidencial é mais simbólico do que efetivo não deve, porém, ser entendida como uma fragilidade do regime democrático português. Pelo contrário, ela inscreve-se numa tradição política longa e consciente, marcada por uma profunda preocupação com o equilíbrio de poderes e com a contenção de figuras singulares demasiado fortes. Afinal, desde o século XIX Portugal apresenta uma cultura política na qual a chefia do Estado se distingue da governação direta. Com a consolidação do liberalismo, o rei deixou de governar de forma direta, mantendo uma posição central na representação do Estado, enquanto o exercício efetivo do poder passou para governos responsáveis perante o parlamento. Esta separação entre símbolo e decisão efetiva moldou duradouramente a perceção do poder político em Portugal[1], criando uma tradição onde a chefia do Estado era vista mais como garante institucional do que como centro efetivo de governação.
A Primeira República herdou esta tensão, mas não conseguiu resolvê-la. A instabilidade governativa, a sucessão rápida de presidentes e a ausência de consensos políticos sólidos fragilizaram a autoridade da chefia do Estado, que raramente se afirmou como elemento de garante e estabilidade institucional. Longe de se tornar um centro de decisão eficaz, o Presidente tornou-se assim numa figura transitória num sistema marcado por sucessivas crises[2]. Esta fragilidade contribuiu para o desgaste da instituição em si e para a ideia de que o poder real se encontrava sempre deslocado nas mãos de outros atores políticos.
Eis que durante o Estado Novo, a dissociação entre cargo e poder atingiu uma forma particularmente clara. Apesar de a Constituição de 1933 atribuir formalmente competências relevantes ao Presidente da República, o centro efetivo do poder político concentrou-se na figura do Presidente do Conselho. O chefe de Estado assumia sobretudo uma função simbólica e legitimadora, enquanto a decisão política se exercia noutras esferas[3]. Esta experiência prolongada reforçou na cultura política portuguesa a noção de que a chefia do Estado pode existir como figura institucional forte no símbolo, mas limitada na ação.
De certa forma a Constituição de 1976 herda este legado histórico, mas procura enquadrá-lo num regime democrático mais pluralista. O sistema semi-presidencial português atribui ao Presidente da República poderes relevantes, mas claramente delimitados, concebidos para garantir o regular funcionamento das instituições e assegurar a estabilidade do sistema político[4]. Este não se trata de um poder meramente decorativo, mas de um poder de intervenção ponderada, pensado para atuar em momentos críticos e não para substituir o governo ou o parlamento. Como sublinham Gomes Canotilho e Vital Moreira, o Presidente não é um órgão de direção política, mas um órgão de fiscalização e de arbitragem constitucional[5].
Na prática, os poderes presidenciais consagrados na Constituição manifestam-se sobretudo como instrumentos de garantia institucional. O exercício do veto político, da dissolução da Assembleia da República, da nomeação do Primeiro-Ministro ou da promulgação de diplomas não corresponde a um poder de governação direta, mas a uma função de regulação e equilíbrio entre os órgãos de soberania. Efetivamente o Presidente não governa nem legisla, mas pode condicionar, moderar e enquadrar o funcionamento do sistema político. Trata-se preponderantemente de um poder essencialmente negativo ou corretivo, cuja eficácia depende menos da frequência do seu exercício e mais da sua credibilidade.
Deste modelo emerge um paradoxo estrutural. Por um lado, o Presidente é o único órgão de soberania eleito diretamente pelo conjunto dos cidadãos, o que lhe confere uma legitimidade democrática singular. No entanto, essa legitimidade não se traduz numa capacidade de ação política quotidiana. Pelo contrário, quanto maior é a normalidade institucional, menor é a visibilidade do seu poder efetivo. O Presidente torna-se verdadeiramente central quando o sistema entra em tensão, quando existem crises governativas, bloqueios parlamentares ou ruturas graves na confiança política. É precisamente nesses momentos que o seu papel se revela incisivo e decisivo.
Apesar disso, a figura presidencial é frequentemente envolvida numa aura de expectativa que ultrapassa as suas competências formais. As campanhas eleitorais personalizadas, a lógica mediática da proximidade e a valorização de atributos morais e emocionais contribuem para a construção de uma imagem do Presidente como árbitro absoluto da vida política. Esta leitura é reforçada pela necessidade, sentida por alguns cidadãos, de encontrar uma figura acima das disputas partidárias, capaz de representar uma certa ideia de unidade nacional. Max Weber ajuda a compreender este fenómeno ao distinguir entre dominação legal-racional e dominação carismática[6], permitindo perceber como, apesar de o poder do Presidente da República estar claramente definido no plano jurídico-constitucional, a sua autoridade pública constrói-se muitas vezes através de elementos simbólicos, comunicacionais e carismáticos que ultrapassam a estrita dimensão legal do cargo que ocupa.
Segundo Pierre Rosanvallon, as democracias contemporâneas tendem a reforçar o papel simbólico de certas figuras políticas para responder à fragmentação do poder e à erosão da confiança nas instituições representativas[7]. Neste sentido, o Presidente da República portuguesa desempenha uma função essencial de mediação simbólica, funcionando como ponto de convergência de expectativas e como referência de estabilidade num sistema político complexo. A ideia do tigre de papel não reflecte, assim, um sinal de fraqueza, mas a expressão de um poder que atua sobretudo através da autoridade moral, da palavra e do exemplo.
Analisando a democracia portuguesa, os momentos em que os Presidentes da República fizeram sentir plenamente o peso dos seus poderes foram escassos, mas carregados de enorme significado político. Não surgiram como gestos de rotina, mas como respostas excecionais a tempos de crise e rutura, sempre precedidas de ponderação e silêncio. Cada um destes momentos transportou consigo custos institucionais e o risco latente de fratura entre órgãos de soberania, razão pela qual o exercício do cargo foi-se moldando numa cultura de prudência[8]. Longe de traduzir hesitação, essa prudência nasce da consciência de que o poder presidencial, para permanecer eficaz, deve ser usado com parcimónia, sob pena de se consumir no próprio excesso.
Longe de ser um elemento secundário do sistema político, o Presidente da República desempenha um papel fundamental na estabilidade da democracia portuguesa. A sua função não é substituir os restantes poderes, mas garantir que estes funcionam dentro dos limites constitucionais. Ao atuar como moderador, fiscal e garante último da Constituição, o Presidente contribui para a longevidade e resiliência do regime democrático. O mito do tigre de papel nasce quando se confunde poder simbólico com impotência política, ignorando que, em democracia, a contenção pode ser também ela uma forma de força.
Num tempo marcado pela desconfiança relativamente à política e pela tentação de soluções personalistas, a Presidência da República assume uma importância acrescida. A sua legitimidade direta, aliada à limitação consciente dos seus poderes, permite-lhe funcionar como elemento de equilíbrio num sistema plural e competitivo. Compreender o papel do Presidente da República em Portugal exige, assim, abandonar leituras simplistas e reconhecer que o valor da instituição reside precisamente na sua capacidade de intervir sem dominar, de influenciar sem governar e de representar sem impor. O verdadeiro desafio não é transformar o tigre de papel num feroz animal de força bruta, mas compreender que, numa democracia madura, o poder mais duradouro é muitas vezes aquele que sabe conter-se.
Referências
[1] Nuno Gonçalo Monteiro, D. João VI, Lisboa, Círculo de Leitores, 2006.
[2] Rui Ramos, A Segunda Fundação (1890–1926), Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2004.
[3] Fernando Rosas, Salazar e o Poder, Lisboa, Tinta da China, 2012.
[4] Constituição da República Portuguesa, 1976, artigos 120.º a 136.º.
[5] J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Coimbra, Coimbra Editora, várias edições.
[6] Weber, M. (2019). Economy and society: A new translation (K. Tribe, Trans.). Harvard University Press.
[7] Pierre Rosanvallon, La légitimité démocratique, Paris, Seuil, 2008.
[8] António Costa Pinto, O Presidente da República no Sistema Político Português, Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, 2011.