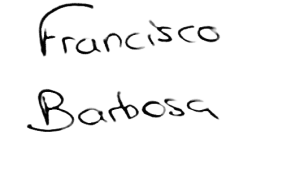No próximo dia 18 de janeiro, os portugueses regressam às urnas para escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República. À primeira vista, trata-se de mais um ato eleitoral regular; olhando com atenção, percebe-se que estas eleições presidenciais transportam um conjunto de singularidades.
Desde logo, o número elevado de candidaturas chama a atenção. Nunca antes se apresentaram tantos nomes a disputar Belém: 11 candidatos elegíveis — dez deles homens —, num cenário que reflete a fragmentação do espaço político e a dificuldade em construir consensos. A esta pluralidade soma-se uma possibilidade carregada de simbolismo: o eventual regresso de um militar à mais alta magistratura da República, 40 anos depois do fim do mandato de António Ramalho Eanes. O almirante Henrique Gouveia e Melo, apresentado, teoricamente, como independente, encarna essa hipótese e reabre um debate que muitos julgavam encerrado no período da consolidação democrática.
Há ainda outro dado digno de nota. Coloca-se a hipótese da ascensão de um candidato da extrema-direita, André Ventura, fenómeno que, independentemente do desfecho eleitoral, não pode ser ignorado enquanto sintoma político — símbolo do desgaste das estruturas partidárias e de uma crescente volatilidade do eleitorado.
Por fim, estas eleições poderão obrigar o país a regressar a um cenário que não se verifica desde 1986: a realização de duas voltas eleitorais. Caso as sondagens sejam confirmadas, Portugal será novamente chamado às urnas em dois momentos, separados por poucas semanas, num exercício democrático que não ocorre há precisamente 40 anos, quando Mário Soares venceu a Presidência após uma disputa renhida. É neste espelho do passado que se impõe a pergunta essencial: até que ponto a conjuntura atual ecoa a de 1986?
A coincidência temporal convida à reflexão. Em 1986, o país vivia um contexto de forte instabilidade política, social e económica. Recuando um pouco mais, a meio da década de 1980, Portugal encontrava-se sob a governação do chamado Bloco Central, uma solução inédita que juntou PS e PSD num mesmo Executivo. Sob a liderança de Mário Soares, com Carlos Alberto da Mota Pinto (líder do PSD) como vice-primeiro-ministro, o governo foi obrigado a aplicar uma política de austeridade orientada pelo Fundo Monetário Internacional, com o objetivo de estabilizar a economia e preparar a adesão à então Comunidade Económica Europeia.
As medidas de contenção, os cortes e as restrições financeiras tiveram um impacto na sociedade portuguesa. Como a história teima em demonstrar — e como a memória recente da intervenção da troika não permite esquecer —, foram os mais desfavorecidos aqueles que mais sofreram. O descontentamento social alastrou, a pobreza tornou-se visível e o país, que mal tinha ultrapassado uma década de liberdade após o fim da ditadura, viu regressarem fantasmas que julgava afastados. A esperança que a democracia trouxe em 1974 parecia estar a falhar nas suas promessas.
Nesta conjuntura instável, a súbita morte de Carlos Alberto da Mota Pinto, vítima de um aneurisma em maio de 1985, veio alterar o tabuleiro político. A sua ausência abriu caminho à ascensão de Aníbal Cavaco Silva à liderança do PSD, cuja estratégia de rutura com o Bloco Central precipitou o pedido de demissão de Mário Soares e a convocação de eleições legislativas antecipadas para outubro daquele ano.
O resultado foi uma vitória curta do PSD, insuficiente para dissipar a instabilidade. Mais relevante do que esse triunfo tímido, alcançado sem coligação com o CDS, foi a pesada derrota do PS — a maior sofrida pelo partido em democracia —, penalizado pelo eleitorado pela crise económica e social que o país atravessava, num paralelismo que não deixa de encontrar eco na conjuntura política e social de 2024. Em simultâneo, emergiu uma novidade que abalou o sistema partidário: o aparecimento do PRD (Partido Renovador Democrático), força política de centro-esquerda associada ao então Presidente Ramalho Eanes, que elegeu 45 deputados e se afirmou como terceira força parlamentar, com apenas cinco deputados a menos do que o Chega nas eleições legislativas de 2024.
O país entrava, assim, num ciclo de instabilidade marcado por eleições sucessivas — recorde-se que, ainda em dezembro de 1985, realizaram-se eleições autárquicas — e por uma recomposição do mapa político. A crise económica e social agravava o ambiente, e as eleições presidenciais de 1986 acabariam por se transformar num verdadeiro ringue político, tanto pelo contexto como pelos protagonistas.
À esquerda, o cenário era de fragmentação. Mário Soares, enfraquecido pelo desgaste governativo, avançou como candidato presidencial. A seu lado, surgiram a independente Maria de Lurdes Pintassilgo e o dissidente socialista Francisco Salgado Zenha, que reuniu um apoio inédito, congregando o PCP e o recém-criado PRD. Em contraste, a direita apresentou-se unida: PSD e CDS fecharam fileiras em torno de Diogo Freitas do Amaral.
Apesar dessa unidade, Freitas do Amaral não alcançou os 50% necessários para evitar a segunda volta. A esquerda, mesmo dividida, somou mais de metade dos votos. Soares, contra muitas expectativas, garantiu o segundo lugar com mais de 25%, seguido de perto por Salgado Zenha, com cerca de 20%. Tudo ficou em aberto. Na segunda volta, os limites tornaram-se claros. Freitas do Amaral já não tinha margem de crescimento à direita. Soares, pelo contrário, apostou numa mobilização ao “povo de esquerda”, convocando o seu passado político e o seu capital simbólico antifascista. O apelo resultou. Por uma margem curta, pouco superior a 100 mil votos, Mário Soares foi eleito o primeiro Presidente civil da democracia portuguesa. Mais de uma década após o 25 de Abril, o regime democrático consolidava-se simbolicamente. O antigo primeiro-ministro contestado passava a ocupar o Palácio de Belém. Nesse novo papel, a rejeição transformou-se em aceitação — e, mais tarde, em consenso —, o que ajuda a explicar a reeleição esmagadora de Soares em 1991, com mais de 70% dos votos.
Perante este quadro, compreende-se que o cenário que se desenha para o próximo dia 18 de janeiro apresente inquietantes semelhanças com o de 1986. Eleições sucessivas, uma crise social e económica persistente, o desgaste do bipartidarismo tradicional e a ascensão visível da extrema-direita compõem um ambiente que, mais uma vez, empurra o país para uma segunda volta presidencial quase inevitável. A incógnita central permanece: quem serão os dois protagonistas dessa corrida final?
A maior diferença face a 1986 reside, paradoxalmente, no enfraquecimento do campo que, então, acabou por vencer. Para lá da afirmação da direita liberal e do crescimento da extrema-direita, a esquerda apresenta hoje uma expressão eleitoral reduzida e fragmentada no espetro político. Uma segunda volta polarizada entre esquerda e direita, como aconteceu há 40 anos, é difícil, mas não impossível.
É evidente que o mundo de hoje não é o de 1986. A consolidação do neoliberalismo, a normalização de forças de extrema-direita à escala global e, sobretudo, o papel central das novas tecnologias — das redes sociais à inteligência artificial — alteraram a forma como se faz política, como se molda a opinião pública e como se manipulam emoções coletivas. Tudo isto deveria obrigar-nos a olhar para o dia 18 de janeiro com prudência e sentido crítico.
Mas a história ensina que a democracia não se preserva pela inércia. Exige participação, exige confronto de ideias e, quando necessário, exige presença no espaço público. É tempo de devolver centralidade ao diálogo e à discussão racional, afastando o ruído dos ringues mediáticos em que o debate político se tem vindo a degradar. A democracia não sobrevive sem equilíbrio entre forças políticas, nem resiste quando a raiva e o desespero substituem o pensamento crítico e democrático. Mais do que escolher um Presidente, o país será chamado a decidir que tipo de espaço político quer habitar. E essa escolha, como tantas vezes no passado, não é neutra nem isenta de consequências.