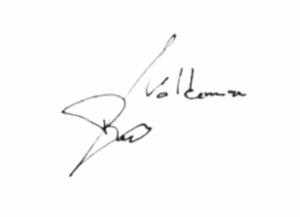Tem-se visto, um pouco por toda a Europa, mas com particular intensidade em França, uma oposição cada vez mais ruidosa ao Natal, à tradição e aos costumes. Portugal, até aqui relativamente à margem mediática desses cenários, viveu nos últimos dias uma micro-polémica que se baseou na ideia de “cancelar o Natal” em escolas públicas.
O argumento invocado para esse cancelamento tende a repetir-se, com variações mínimas por parte dos grupos minoriátios que lhe dão suporte. Entre somos todos iguais, ou devemos integrar quem chega, ou ainda, o espaço público deve ser neutro. E, sobretudo este argumento de que temos de construir uma sociedade em que os costumes sejam equivalentes, não representem nada, não incomodem ninguém. Diremos nós, uma espécie de cultura sem arestas, inócua por design.
Só que essa sociedade utópica – ou, mais honestamente, distópica – é impraticável. Nós, seres humanos, não habitamos na neutralidade. E por isso escolhemos, preferimos, criamos, simbolizamos. E quando se tenta nivelar os costumes, enterrando tradições, não se cria “vazio” ou terra de ninguém. Cria-se oportunidade. E com isso, o espaço cultural nunca fica desocupado, é sempre preenchido por algo mais. Se, por exemplo, uma expressão é suprimida, outra ocupa o lugar. E por vezes, por uma expressão com menos enraizamento, menos beleza e, ironicamente, com mais carga ideológica. Quando se tentam aplanar os costumes, enterrando tradições, apenas se dá espaço para que outras tradições se implementem, construam e ocupam o vazio deixado. A história e a vida quotidiana repetem este padrão com uma regularidade desconfortável.
Também não pretendo entrar aqui no refrão fácil do “quem vem tem de aceitar as tradições”. Em boa medida, isso pertence ao senso comum. Quem escolhe viver num país, escolhe também, queira ou não, uma gramática de hábitos, rituais e referências partilhadas. E quem chega com vontade de contribuir para o desenvolvimento do país tem, pelo menos, o dever cívico de o conhecer e respeitar. Não se exige conversão a gostos alheios mas exige-se reciprocidade. E com isto, aceitar a livre expressão daqueles que acolhem.
Anular uma tradição em nome da integração tem um efeito perverso porque marginaliza precisamente quem deseja celebrá-la. É um “equilíbrio” que tende para o lado do que pesa menos em número, mas pesa mais em suposta capacidade de veto. Passa por cima de maiorias e cria outras desigualdades sob o pretexto de combater desigualdades antigas.
Em França, onde a tensão entre laicidade e um certo laicismo militante se tornou parte do clima social, multiplicam-se controvérsias públicas sobre símbolos tradicionais no espaço comum, e com presépios incluídos. Sendo que, nalguns casos, ocorrem episódios de vandalização e de conflito jurídico-administrativo entre uma minoria crescente e o poder local. O ponto essencial, porém, não é um presépio aqui ou ali, mas é a lógica que se instala. Muitas vezes, nem é a população que mais se sentiria “visada” por esses símbolos a exigir a sua remoção! É uma franja moralmente justiceira, convencida de que a igualdade se faz por apagamento. Só que o mundo não é mais justo quando fica mais cinzento. A beleza da convivência está na diferença, mas uma diferença que funcione em duas vias.
Também noutros países europeus, em contextos e por motivos diversos, tem havido recuos e cancelamentos pontuais de iniciativas tradicionais ligadas ao Natal, frequentemente por razões de segurança e tensão social. E, dependendo do país e do extremo que domina o debate, a corda puxa para um lado ou para o outro.
E nós, aqui – relativamente longe, a observar este movimento – é esse o futuro que queremos? Desejamos mesmo importar para Portugal o padrão de polarização que já se vê noutros lugares? A distância temporal com que estes fenómenos nos chegam deveria servir para uma coisa simples e rara. Isto é, aprender antes de cair. Como quando estudamos História para identificar excessos e evitar repetir os mesmos erros.
Porque quando estes conflitos estalarem a sério em Portugal, a resposta extremada já estará, por cá, disponível e pronta a uso. E será uma resposta também ela importada, traduzida e amplificada. E sabemos como isto funciona, que quando um extremo ganha tração, o outro organiza-se como espelho. E a sociedade, por cansaço ou medo, acaba por pender para o lado da resposta.
Queremos mesmo “cancelar” tradições nas escolas? Ou queremos, com mais lucidez, distinguir entre imposição e herança cultural, entre proselitismo e memória, entre neutralidade do Estado e esterilização do espaço comum? E, sobretudo, queremos aprender com o que vemos, ou preferimos fingir que somos uma exceção à regra europeia?