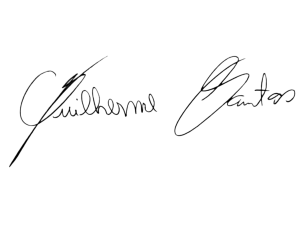As eleições autárquicas de 2025 deviam ser o retrato vivo da democracia de proximidade. No papel, são isso mesmo. Na prática, em muitos concelhos, tornaram-se um gigantesco exercício de manutenção de poder. A urna serve menos para escolher um projeto e mais para confirmar quem continua a mandar. E o voto, tantas vezes, é um bilhete carimbado para mais quatro anos de dependência.
O PSD saiu destas eleições como força dominante no mapa autárquico, com 136 câmaras, enquanto o PS ficou na casa das 128. O Chega, que prometia uma revolução local, acabou por conquistar apenas três presidências. Ficou aquém das promessas, mas não inofensivo. Um vereador do Chega pode agora ser o fiel da
balança em vários executivos e transformar qualquer decisão num braço de ferro. É o novo desporto político nacional, a chantagem parlamentar em versão municipal.
Ainda assim, há uma boa notícia. A abstenção caiu para 40,7 por cento, a mais baixa desde 2005. Os portugueses voltaram a votar. Voltaram a acreditar, ainda que por pouco, que a política local pode mudar alguma coisa. Mas essa esperança é frágil. Quando as pessoas participam e, no dia seguinte, veem as mesmas caras, os mesmos vícios e os mesmos jogos de bastidores, o entusiasmo evapora-se depressa. A democracia local vive de proximidade, mas morre de rotina.
O grande vício das autarquias continua a ser o clubismo. Em Portugal, vota-se muitas vezes como se torce num estádio. A cor partidária vale mais do que o caráter, o símbolo substitui o conteúdo e o eleitor transforma-se em adepto. Há quem vote com devoção religiosa sem ler uma linha de programa. O problema é que essa fé cega mantém no poder os mesmos de sempre, mesmo quando já não há obra nem visão, apenas o instinto de sobrevivência política.
As autarquias tornaram-se, em demasiados casos, o refúgio perfeito para quem não quer perder o lugar. Há funcionários que fazem campanha com o medo de perder o emprego. Há dirigentes que acumulam cargos e mandatos com a naturalidade de quem troca de cadeira, mas nunca de mesa. Há empresas municipais que são o
prolongamento do executivo e gabinetes de assessoria que mais parecem sedes de campanha permanentes. Tudo isto com carimbo de legalidade e selo de impunidade.
Os académicos chamam-lhe politização dissimulada. É um termo bonito para descrever um sistema onde o clientelismo veste fato e gravata. O poder local aprendeu a usar a linguagem da transparência, mas continua a operar por dentro como um clube fechado. A proximidade que devia servir para aproximar cidadãos virou desculpa para favorecer conhecidos. O Estado central é um labirinto, mas o Estado local é um condomínio onde todos se conhecem demasiado bem.
E as campanhas? São o espelho desse teatro. O discurso político virou publicidade. O programa virou panfleto. O debate virou ruído. O eleitor é bombardeado com outdoors coloridos, sorrisos ensaiados e promessas recicladas. As inaugurações repetem-se como se o país fosse construído de quatro em quatro anos. É a estética da obra fácil, não a ética da governação. A política local transformou-se num reality show onde o protagonista principal é a vaidade.
Por isso, é ingénuo acreditar que estas eleições mudaram o essencial. Mudaram cores, mudaram fotos nos cartazes, mas o jogo é o mesmo. Em demasiadas autarquias, governa-se para dentro. Governa-se para a estrutura, para o partido, para os aliados, raramente para o cidadão. É uma democracia de bastidores, onde o
mérito é substituído pela lealdade e a gestão pública pela gestão de influências.
O caminho alternativo não é utópico, é apenas corajoso. Transparência total, com relatórios mensais simples e públicos. Rotatividade nos cargos de direção para evitar carreiras vitalícias. Auditorias externas obrigatórias, sem exceções. Regras claras para os apoios às associações, com critérios técnicos e não partidários. E, acima de tudo, uma cultura política que valorize mais a prestação de contas do que o alinhamento partidário.
O mapa que saiu das urnas é um mosaico fragmentado. Em cidades-chave, como o Porto, a governação dependerá de acordos difíceis e de bom senso político. Pode ser o caos ou pode ser o início de uma cultura de negociação pública, sem segredos nem chantagens. Se for bem usada, a fragmentação pode ser o melhor antídoto contra o poder absoluto das máquinas.
As autárquicas de 2025 mostraram que os portugueses ainda acreditam na política local, mas também mostraram que estão fartos da política como carreira vitalícia. Querem ver trabalho, resultados e transparência, não selfies em feiras ou promessas com prazo de validade.
A cor já não chega. O símbolo já não basta. O eleitor começa finalmente a perceber que o voto só tem valor se for exigente. Mas em Cantanhede, essa exigência ainda não se fez ouvir. Aqui, a política continua a ser um ofício de permanência, e o poder, um hábito antigo vestido de normalidade. O PSD voltou a vencer, como sempre, sem sobressaltos nem surpresas, e talvez esse seja o retrato mais fiel do problema. O país muda, o mapa muda, mas há concelhos que continuam presos no mesmo calendário, como se a alternância fosse uma ameaça e não um sinal de maturidade democrática. Enquanto assim for, a democracia continuará formalmente viva, mas emocionalmente cansada. E o poder local, em vez de motor de mudança, continuará a ser o espelho de um país que ainda não se atreveu a virar a página.