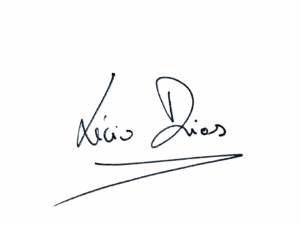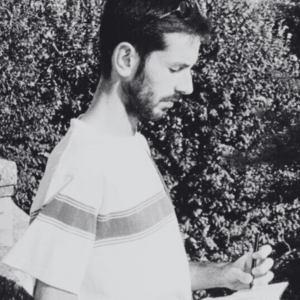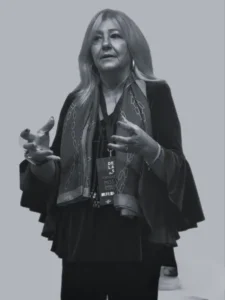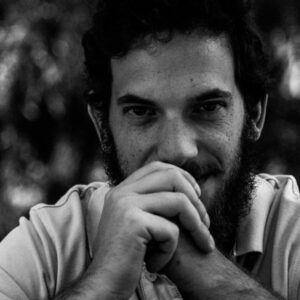“Cheguei à conclusão que quem não tem de ir pro céu, não adianta olhar para cima.”
Carolina Maria de Jesus, “Quarto de Despejo – Diário de uma favelada.”
Quem sai à rua, atento, é capaz de conceber pequenos motivos da antecipação cerimonial que se avizinha. Resguardado nas esferas das celebrações veranis dos mil e um santos que por este país vão sobrevivendo, um advertido silêncio perpetua a premonição de um sistema indefinido, taciturno (e quiçá caduco) ao bom jeito português, assombrado por uma divisão camaleónica entre a reverberação das recentes manifestações eleitorais e a premonição sísmica do melhor resultado possível: a alegria dos mais badalados comentadores (profissionais ou aspirantes). Sinais de domínio do espaço público pela conceção política da banalidade, corrente voltada para o ordinário (sub)mundo da práxis democrática, esclarecem quem se depara com os gestos propagandísticos com um sinal de desprezo, envoltos na mística da partida ou do regresso a casa ou, apenas e só, animados pela breve, mas intensa expressão de iniciativas locais que brotam por todo o território. Outros, porém, persistem nas comunicações alinhavadas com um rumo existente – ou não – que parece tomar-se de um rumo revigorado por uma conclusão inegavelmente sua; um fim para a causa própria, defendendo-se a “política como arte do possível”1.
Como recusar ouvir é temer a verdade, há quem atenda às suspeições dos opositores, dinamicamente, eleitor-candidato, rejuvenescidos por formulações (a)típicas do que se propõem a propor. Confuso para quem vota, sim, mas igualmente confuso para quem governa e para quem pretende governar. O estado reflexivo da perversão política é invariavelmente castrador perante a dinâmica apática das (pré-) autárquicas. Uma dimensão primorosa, toldada pela expressão protocolar entre a possibilidade e a impossibilidade, dificulta qualquer tipo de projeto para a mais próxima realização do apreço popular. A vivência imediata e a proximidade institucional entre os munícipes e os eleitos deveriam (por si só) ser motivo unitário de interesse reforçado no desenlace final, mas não são. Efeitos nítidos, obscurecidos pela brandura dos candidatos tranquilamente enleados na dimensão resignada dos motivos pessoais e suprapartidários, justifica a serventia autárquica como a rampa de lançamento futuro, desnivelando a expectativa dos cidadãos, uma vez que parece ser essa a conclusão que a maioria pretende assumir.
Excetua-se o apoio da militância, cujo clubismo persiste e resiste à indefinição da multiplicidade interna dos próprios partidos. Resistentes, porém, os eleitores recusam a viabilidade do gesto e reforçam o desnecessário interesse em escolher. Não que esta seja uma afirmação devida à devoção do cronista, mas sim à taxa de abstenção superior a 46% (a segunda mais elevada no domínio das eleições locais após o 25 de abril2).
A desconfiança institucional ambivalente é uma justificação plausível, mas não totalmente segura. Veja-se, por sinal, a leveza com que, por um lado, se encara o discurso livre, mas se enclausura o bom-senso, por outro, alimentando o impulso reducionista da discussão que não só se limita a meia dúzia de temas, mas também à velha máxima do estatismo, em que o paradoxal efeito do maior ou menor se agarra às mais profundas devoções de um reacionarismo enclausurado no maniqueísmo equidistante. Como tal, inevitavelmente, o exercício da oposição sobrevive como uma atitude meramente indicativa. Aqui chegados, é-nos imposto o exercício de uma avaliação do que se apresenta em ambos os lados. Quem vota acredita que a opção impositiva do eleitor entre o residual e o remanescente subsiste numa profunda cumplicidade em que perspetivas reformistas nada alterarão, atendendo à verificação da hipótese de que o reformismo seria algo efetivo, em reação à mera permanência do habitualmente considerado para efeitos de estabilidade.
De igual forma, também se verifica que a simplicidade rotineira da devoção coletiva pelos grandes assuntos da nação é, paralelamente, a concretização da melodia reinante, definindo-se a política autárquica como espaço relevo de segunda ou terceira categoria. Por outro lado, promover política pública no seio de uma sociedade em que impera um profundo individualismo hedonista, megalómano, doente, é desenvencilhar-se da política como a arte do (im)possível, tornando-a numa concretização da monolítica do absurdo, nos termos de Alfred Jarry. No discurso de apresentação da peça “Ubu Roi”, Jarry defendeu que a sua escolha pela Polónia como espaço (simbólico) da ação correspondia, na verdade, a lugar nenhum: um lugar que “…fica em toda a parte e, antes de mais nada, o país onde nos encontramos.”. No cerne da política como arte do absurdo, lugar nenhum será a forma psico-programática da definição das prerrogativas de grandeza aptas à unificação da vontade dos indivíduos, circunscrita aos motivos do planeamento superlativo (nacional e internacional) do Estado; como se o plano último do munícipe nada mais fosse que o resquício reinterpretativo dos delineamentos predestinados no discurso mais expansivo possível, reproduzido numa escala microscópica, em que são vários aqueles que acabam esquecidos. Concretização suprema da sua natureza absurda será, irresistivelmente, a expressão do indivíduo concordante, cuja preferência subjetiva é, originariamente, a vontade externalizada da idiossincrasia de um candidato idiótico.
Simultaneamente, surge um dinamismo inverso, indiciando-se uma reapreciação contemporânea da paleopolítica, mas já não na ordem antiqua do ser-afim, “… enquanto arte de colocar homens num interior comum aumentado”3, visto que se reorganiza com a finalidade de retirar homens do interior comum privatístico, para uma espaço explosivo e extensivo público-privado, no qual a publicidade do indivíduo comum é a reprodução íntima da sua (extra)ordinariedade, cujo critério de definição é – justamente – a expectativa massificada dos átomos circundantes (domésticos, laborais, sociais, entre outros). Só assim se compreende que a expressão pública de qualquer candidato apenas se pode qualificar como sendo bem-sucedida, na medida da exposição máxima da sua individualidade, sem que tal comporte a sua ridicularização: uma fronteira indecifrável. Seria justo entender como suficiente que o absurdo se relaciona com outras motivações que não a concordância com o programa político, mas realiza-se num tom mais profundo, principalmente se atendermos que tal se estreita no sentido de se confundir com a afinidade pessoal entre o eleitor e o potencial eleito, num grau de pura banalização do projeto político, mas também do projeto-candidato, o que resulta na estandardização da inutilidade resultante no voto perdido para critérios de delineamento objetivo, inapto a responder às necessidades concretas das regiões, que passam a ser geridas e não governadas.
No clima municipal, tal fenómeno é francamente visível, atendendo que mesmo nos de maior dimensão, a proximidade entre o eleitor e o potencial eleito é largamente superior, o que desvirtua a promessa de alternativas justas a favor da perspetiva dos habitantes. Padronizando-se a prática eleitoral na medida do excesso de responsabilização dos eleitores, abre-se espaço para o surgimento de novos políticos próximos da figura de Ubu, disponíveis para realizar simulacros de atos de justiça governativa, socorrendo-se da banalização da bondade nacional: o que se reconhecerá como um excesso, ainda que tardiamente, talvez porque “…Ubu é um ser ignóbil, e por isso lembra a todos nós.”. Entretanto, finja-se que o chão é um céu grandioso que ainda ampara as estrelas caídas e que não restam Carolinas de Jesus esfomeadas por este Portugal infinito.
- https://politicaldictionary.com/words/art-of-the-possible/ ↩︎
- Taxa de abstenção nas eleições para as câmaras municipais. (2025). PORDATA. https://www.pordata.pt/pt/estatisticas/eleicoes/eleicoes-autaquicas/taxa-de-abstencao-nas eleicoes-para-camaras-municipais ↩︎
- Sloterdijk, P. (1996). No Mesmo Barco – Ensaio Sobre a Hiperpolítica. Edições Século XXI. ↩︎