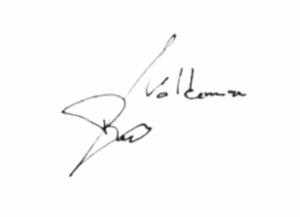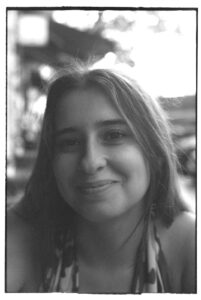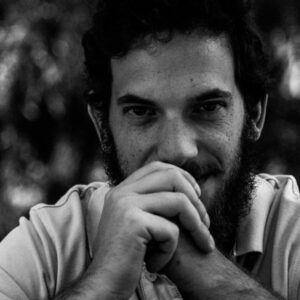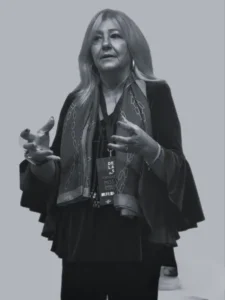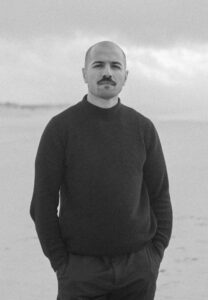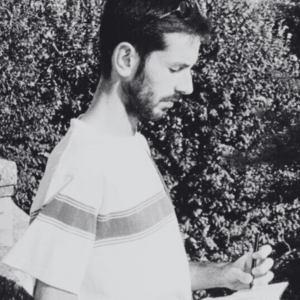Em tempos de incerteza e ruído constante, tendemos a relegar a cultura para a esfera do acessório, não que o façamos tendencialmente de forma consciente, mas porque nos esquecemos do quão presente a cultura está inserida no nosso quotidiano. Vemo-la como um adorno, um entretenimento para os tempos livres, um luxo a que nos permitimos quando tudo o resto, o “essencial”, está resolvido. Claro! Sim! A Pirâmide de Maslow! A sobrevivência até ao fim do mês! E a fuga do essencial à fruição da beleza da vida. Esta perspetiva não é apenas redutora, mas perigosamente equivocada. A cultura não é o que se pendura na parede após a casa estar construída. É o próprio chão onde assentam as fundações da nossa vida em comum. É a memória que nos antecede e o horizonte que nos desafia.
Basta olhar para os mais jovens para compreender a dialética entre a necessidade e a possibilidade. Quando os vemos imersos em música, cinema, videojogos ou nas complexas teias das redes digitais, não assistimos a uma mera fuga da realidade. Vemo-los a procurar abrigo, como quem se resguarda de uma tempestade. Esta busca frenética não é por entretenimento, mas por identidade, por um sentido de pertença, por um vislumbre de futuro. Para eles, a cultura não é um produto a ser consumido passivamente; é experiência, é partilha, é uma forma de resistência contra a indiferença do mundo. Os jovens não anseiam por museus empoeirados, narrativas de digestão fácil. Anseiam por mundos em movimento, onde possam ser autores e não apenas espectadores, esperam museus vivos, narrativas imersivas e cultura que vá ao encontro das bases filosóficas da estética, e não às bases ideológicas políticas. Mas servirá a cultura e o património para mais do que planos de fundo de selfies para as redes sociais?
Imergindo mais a fundo na problemática, diria que a tensão entre a hesitação constante, a salvaguarda da tradição e a entrega à inovação define a alma da Europa atual. O digital abriu portas que jamais imaginámos, mas não tornou as praças e os teatros obsoletos. Há quem tema que a alma da cultura se perca na sua mercantilização, e há quem celebre a sua democratização sem precedentes. No fundo, a tensão é antiga e talvez insolúvel: a cultura pertence a todos, mas cada um de nós apropria-se dela de uma forma única e pessoal. E o que esperar da Cultura no século XXI?
Bem, uma coisa é certa: não podemos, em momento algum, esquecer o imenso poder que depositamos nas mãos da cultura. Ela pode ser o espaço privilegiado onde a tolerância se aprende, onde o encontro com o outro deixa de ser uma ameaça para se tornar uma possibilidade de crescimento. Mas a cultura não é inerentemente benigna. Quando usada como arma, transforma-se numa barreira ou num perigoso instrumento de exclusão. Quando se cristaliza numa tradição morta ou é totalmente capturada pelo mercado, perde o seu poder mais vital: o de nos fazer interrogar, de nos inquietar, de nos forçar a pensar. Por outro lado, quando altamente subsidiada pelos Estados, quando tomada por grupos extremamente ideológicos, quando fortemente dependente de um lado da equação, tende a servir, não as pessoas, mas o seu próprio sistema, os seus dependentes, as suas clientelas.
A cultura é um sector estratégico, é o que nos distingue de uma vida rotineira, o irracional do racional, do humano. E é por isso que governos autoritários a usam para programar linhas orientadoras para o pensamento, promovem queimas de livros, idolatram autores, sectorizam a cultura. E a cultura só será verdadeiramente democrática, só poderá promover o livre pensamento, permitir o diálogo, estimular o contraste de ideias quando se libertar dos grupos que a tomaram de assalto, da excessiva subsidiarização e de ministérios programadores. A cultura deve voltar a ser parte da sociedade civil — sem que isso signifique total abnegação dos Estados a este fim — e, por isso, parece-me sempre prenúncio de controlo ideológico quando partidos políticos se encostam demasiado aos sectores da cultura e prometem, não só mundos e fundos, como apoio incondicional para tornar a cultura excessivamente dependente do Estado.
A cultura só permanece viva se for, ela mesma, inquieta. Precisa de paixão, de crítica e de uma vigilância constante da nossa parte. A pergunta que nos é devolvida é, no fim de contas, sobre o nosso próprio futuro: que sociedade queremos construir? Uma comunidade fechada, nostálgica de um passado que nunca existiu? Ou uma sociedade aberta, plural, corajosa o suficiente para acolher a diferença e se reinventar a cada dia?
A resposta estará na forma como tratamos a cultura, a nossa cultura. Os jovens já o sabem, mesmo que nem sempre o verbalizem e, na sua busca por sentido, poderá constituir a prova mais eloquente. A cultura oferece-lhes esse sentido, mas exige entrega. Não basta consumir. É preciso vivê-la.
Porque no final, quando as ideologias falham e as certezas económicas se desvanecem, a cultura é o que nos une. Ela é um dos alicerces da sociedade. Tudo o resto é, apenas, ruído.