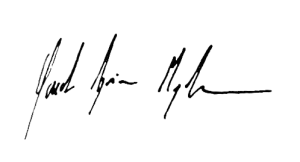Esta questão surgiu-me diretamente relacionada com a arquitetura e o urbanismo: as minhas duas áreas de maior interesse. Por isso, naturalmente que este artigo de opinião focar-se-á na relação bidirecional destes dois conceitos, já que as práticas de um afetam o outro e vice-versa. Eventualmente, constatar-se-á que outras dimensões sociais e culturais se deixarão afetar e afetarão diretamente o urbanismo, arquitetura e o turismo, no entanto, não as vou abordar por agora.
A arquitetura tende a caminhar para uma imagem globalizada. Os diversos mecanismos e dispositivos de conforto ambiental e as técnicas de construção globalmente exploradas permitem que as decisões formais de arquitetura se tornem amplamente aplicadas, deixando de parte o saber local naquilo que ao contexto ambiental, climático, social e cultural lhes diz respeito. O legado do movimento moderno e a sua racionalidade formal e funcional está bem presente. Felizmente, o regionalismo crítico e a procura da identidade autóctone têm cada vez mais voz no momento presente. Porém, a norma não é essa, e sim a proliferação das premissas do movimento moderno e mentalidade do pós-guerra. Este pensamento leva-nos a edifícios e cidades cada vez mais semelhantes. Um retrato urbano de uma rua no novo Médio Oriente ou na metrópole norte-americana torna-se cada vez mais difícil de distinguir. Este efeito pode levar-nos a uma perda de identidade local a longo prazo. Este último parágrafo daria um artigo de opinião por si só. Mas o que tem este contexto que ver com turismo?
Na minha opinião, e contextualizada no fator de atratividade das cidades como forma de turismo, merece a reflexão.
O que distingue Lisboa de Paris, ou Amsterdão para um turista? Para além de toda a identidade cultural e social particular a cada lugar, intrinsecamente associada à forma da cidade, é precisamente o património edificado, as dinâmicas de rua e as atividades que nelas se desenvolvem, que conferem identidade e atratividade ao transeunte. Se vivesse em Barcelona, e na Hungria houvesse uma outra cidade exatamente igual, que me desse exatamente os mesmos tipos de sensações, provavelmente não seria um destino turístico para mim. Iria querer ver coisas diferentes, caminhar em ruas diferentes, experienciar dinâmicas socias diferentes, inspirar-me em edifícios diferentes, provar comida diferente, enfim, colecionar histórias diferentes. E é aqui que quero chegar: à história. O que torna lugares tão singulares e atrativos como Portofino ou Bruges é a sua história: as sucessivas intervenções que o lugar foi tendo durante a sua vida, assentes numa identidade muito própria, de mentalidade e sabedoria locais, contextualizados em diversas épocas e saberes distintos. Ora, se a mentalidade de hoje é global, então as intervenções nas diversas cidades tenderão a ser globais.
O turismo tem precisamente o poder de exponenciar este efeito. Ao investirmos no turismo, e aplico a expressão investir propositadamente, estamos à procura de um retorno. Frequentemente, o retorno mais esperado é o económico-financeiro e não o cultural ou social. Isto leva-nos à indagação do lucro de curto prazo e à reação rápida ao comportamento da oferta e da procura. Se a oferta turística e, consequentemente, a forma da cidade procurar aumentar o número de turismo e a sua receita rápida, tenderemos a criar produtos e serviços mais comuns ao maior número de pessoas. Isto irá criar oferta monótona, global, e desprovida da sensação de lugar e identidade. Vamos por à venda os produtos mais procurados por quem viaja. Oferecer-lhes comida que seguramente mais apreciarão, criar histórias e sensações para “melhor” vender o lugar. Na verdade, um destino verdadeiramente cativante é aquele que se aproxima mais da pureza do lugar. Quando um turista procura um lugar diferente quer contactar com uma realidade distinta e própria do destino. As pessoas são atraídas para os sítios exatamente pela procura de viver sensações e culturas criadas e escritas há muito tempo, assentes numa coerência histórica e social muito forte.
Mantendo este raciocínio, percebemos que as cidades e lugares desenvolveram-se ao longo da sua história na procura de responderem cada vez melhor às exigências dos seus utilizadores e habitantes. Como consequência, o todo tornou-se coerente, vibrante e atrativo. A eficácia do lugar para os seus, a sua harmonia, beleza única e constante otimização na procura de melhor responder aos habitantes, tornou o lugar único e interessante. Se tem interesse, é visitado. Se é visitado, tem turismo.
Se o investimento for no habitante, ao invés do turista, ou seja, se as autarquias, governos, cidadãos e empresas se focarem no desenvolvimento interno do meio e desejarem que os fatores inerentes à qualidade de vida se desenvolvam, o mesmo irá tornar-se rico de oferta cultural, social, recreativa e formal. Por outro lado, se o investimento for no visitante, o meio irá tornar-se monótono, focado no consumo imediato, descaracterizado, ou irá até promover o efeito de safari (pessoas dentro de veículos desenhados especificamente para o efeito como Tuk-Tuk’s ou autocarros de SightSeeing, a olhar para uma cidade sem a viver verdadeiramente).
Com isto, o ponto de reflexão onde quero chegar é: talvez devamos investir, verdadeiramente, no bem-estar do habitante e não do visitante. O conforto, a ordem, composição formal, coerência, oferta cultural, e todas as outras dimensões que compõe um ambiente urbano com o foco no seu habitante deverão ser a verdadeira prioridade. Talvez não devamos promover desmesuradamente o desenvolvimento de oferta turística e espaços de alojamento, mas sim, regular com vista à manutenção de uma dinâmica local saudável e única.
O visitante irá aparecer se este trabalho interno do meio for bem feito. E, quem sabe, continuar a construir espaços e cidades que amanhã também mereçam ser visitados. Será um sinal de que têm sido bem vividos.