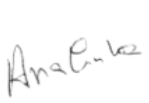Portugal está a passar por uma das situações mais difíceis dos últimos anos sem conseguir dar uma resposta adequada e rápida. Mais de um quinto dos municípios portugueses foram devastados pelas tempestades e em estado de calamidade e, com o prolongamento do mau tempo, assim como a subida dos caudais, prevê-se que outros municípios possam juntar-se a esta lista. O estado de calamidade é declarado quando ocorrem situações que podem colocar em causa (e muitas vezes colocam) a vida, a segurança ou a livre circulação da população.
Face à situação atualmente vivida nestes focos de alerta, a Comissão Nacional de Eleições emitiu um comunicado sobre não haver motivos suficientes para um adiamento das eleições presidenciais, com data prevista a 8 de fevereiro. Citando a fonte: “A existência de estado de calamidade, avisos meteorológicos ou situações adversas de caráter geral não constitui, por si só, fundamento suficiente para o adiamento da votação ao nível concelhio ou distrital”. Ao mesmo tempo, “Neste contexto, tal decisão deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
Algumas questões se colocam perante estas situações que parecem entrar em conflito.
Sendo que os presidentes das câmaras municipais podem pedir adiamento das votações (de uma semana invariavelmente) caso não se assegurem as condições de segurança e de deslocação necessárias, que são também o motivo do estado de calamidade existir, e no meio de toda a organização de meios e do restabelecimento das habitações dos cidadãos, como é que se coloca mais peso em cima:
1) dos presidentes das câmaras municipais para assegurar que os cidadãos possam votar em segurança e que tenham forma de se deslocarem até sítios de voto, sendo que há edifícios completamente destruídos e estradas cortadas?
2) dos cidadãos que, não tendo assegurado os meios básicos de subsistência, tendo em risco o seu posto de trabalho, muitos não sabendo de familiares, para que se desloquem aos locais de voto que lhes forem (re)atribuídos?
Como serão as eleições nesta segunda volta?
Por um lado, prevejo que a apatia relativamente às eleições seja maior do que nunca. Não só pelo cansaço que muitos admitem que o povo português sente após eleições consecutivas, mas também por ser uma segunda volta presidencial que é tudo menos consensual. Se numa primeira volta tínhamos 11 candidatos que poderiam apelar a uma visão plural de fazer política, nesta volta os candidatos encontram-se em quadrantes políticos diferentes. Acredito que a mobilização por António José Seguro possa ser menor do que a expectável porque para muitos, se na primeira volta foi visto como um voto útil, agora poderão sentir que será desnecessário votar nele enquanto voto útil porque outros o farão ou porque sondagens anteriores e mais recentes dão a sua vitória por garantida. Mas sobretudo pela situação vivida por muitos portugueses, que fará com que achem menos prioritárias decisões políticas dum cargo que muitos não entendem plenamente ou não vêem como relevante na tomada de decisões políticas que os impactam diretamente. Em 2011, tivemos a maior taxa de abstenção em eleições presidenciais, 54,55%, também durante um estado de calamidade decretado a nível nacional.
Tendo em conta a situação atual de muitos municípios, teremos com certeza eleições faseadas, a 8 e 15 de fevereiro (já que acredito que muitos municípios afetados irão pedir adiamento das eleições). Isto fará com que o processo de eleição se prolongue e que os resultados do dia 8 de fevereiro possam influenciar a intenção de votos dos que forem votar uma semana depois, tal como percepcionamos a oscilação das intenções de voto mediante as sondagens divulgadas.
Menos importante, os candidatos já se adaptaram e terão de continuar a adaptar-se à campanha eleitoral. Teremos, por exemplo, dois períodos de reflexão?
Mais relevante em situações destas, a forma de fazer política em Portugal sempre foi julgada no prisma da visibilidade que os políticos têm. Antes pelo mediatismo televisivo e, agora, mais do que nunca, nas redes sociais. O imediatismo de passar e receber informações, a rapidez de transmitir uma mensagem, de massificá-la sem intermediários, de partilhá-la e de ter efeito imediato.
Quem irá conseguir, no meio das constantes informações sobre a calamidade vivida por tanto, passar melhor a sua mensagem?
André Ventura tem tido, não só desde o início da campanha mas desde que o partido ao qual preside se insurgiu, um poder forte de apelo através da massificação das mensagens que quer passar. Torna-se então um jogo de quem diz mais, de quem passa mais a mensagem (não necessariamente melhor) e não o que se diz ou uma discussão de ideias/ideais. O seu maior palco são as redes sociais (onde António José Seguro também publica mas com menor intensidade) onde ele pode evitar qualquer tipo de verificação de factos, assim como da comunicação social tradicional (tendo uma visibilidade muito superior à de Seguro por ser uma figura controversa). Não é só ele que lucra com este panorama, mas para Ventura o importante é ter visibilidade, não há má publicidade porque o que o faz parecer mal é “deturpado”, notícias falsas, ou no geral justificado pelos seus eleitores ferrenhos. Num país fustigado por eleições consecutivas e de memória curta, o que importa é avivar o espírito e provocar emoções. O problema é tirar o foco de informações e sobretudo do quão verídica a mesma é num circo mediático que a própria comunicação social alimenta e no qual entrou há muito tempo e dá palco a. Não interessa, nem aos grupos políticos nem aos grandes grupos da comunicação social, que se invista na literacia política do povo português, numa maior capacidade de interpretação de informação e na capacidade de encontrar e cruzar fontes de informação fidedignas. Porque munir os portugueses com estas ferramentas é deixar de alimentar o jogo de audiências. E todos perdem com isso, menos o povo.