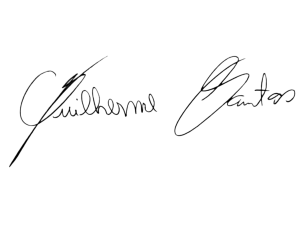Portugal não teve uma eleição presidencial. Teve um simulacro de emergência nacional. Um teste para perceber quantas pancadas a democracia aguenta antes de começar a chiar. Trinta e um por cento escolheram o extintor. Vinte e três por cento escolheram o incendiário. O resto dividiu-se entre personagens muito diferentes: um liberal que acredita que o Estado funciona melhor quando cabe numa folha de Excel, um comentador profissional que decidiu sair do estúdio para provar que ainda sabia jogar em campo, e um almirante que apareceu como se estivesse a comandar uma esquadra em vez de um país. Nenhum passou à final, mas todos ajudaram a mostrar que o problema não é falta de opções, é excesso de frustração.
Chamaram-lhe participação histórica. Cinquenta e dois por cento. Em qualquer outro contexto, isto seria motivo de preocupação. Em Portugal, foi tratado como um milagre. A democracia está tão em esforço que já se celebra quando metade do país aparece. O outro meio ficou em casa, talvez preso em filas, talvez à espera de consulta, talvez só cansado de promessas.
A divisão não é ideológica. É estrutural. Entre quem teve acesso a mais escolaridade, venceu a ideia de que o sistema ainda pode ser consertado. Entre quem foi deixado para trás cedo demais, venceu a fantasia de que alguém a gritar resolve tudo. Uns ainda acreditam em instituições. Outros já só acreditam em castigos exemplares. Uns leem programas. Outros leem comentários.
A palavra “segurança” foi usada como quem usa um spray milagroso: serve para tudo. Segurança para prender mais, expulsar mais, vigiar mais. Segurança para explicar porque o hospital fecha à noite e porque a renda subiu de repente. Quando a política começa a tratar medo como política pública, já não governa, administra pânico.
A imigração foi promovida a vilã da temporada. Não porque seja a causa dos problemas, mas porque cabe num cartaz. É mais fácil apontar para quem chega do que explicar porque é que o país paga salários de miséria, tem casas a preços de luxo e serviços públicos a funcionar por marcação prévia. Enquanto isso, precisamos desesperadamente de quem vem de fora para manter o país de pé. Chamamos-lhe excesso de manhã e necessidade à tarde.
A corrupção voltou, como sempre, em modo slogan. Promete-se transparência como se promete ginásio em janeiro. Dura até fevereiro, se houver sol. Uns querem mais regras. Outros querem acabar com elas porque dão muito trabalho. Uns querem arranjar a casa. Outros preferem deitá-la abaixo porque a porta range.
Entretanto, o Governo continua em modo “estamos a tratar”. A tratar da reestruturação, da transição, da comissão, do grupo de trabalho. O país funciona em beta permanente. Tudo está quase pronto, mas nunca chega a estar. E, depois, perguntam-se porque é que alguém aparece a prometer um botão vermelho para desligar tudo.
No estrangeiro, venceu a versão mais barulhenta do país. À distância, a política vira entretenimento. Um episódio especial transmitido em direto. O drama é sempre dos outros.
Agora, dizem-nos que a segunda volta é apenas mais uma escolha. Não é. É uma decisão sobre que tipo de país queremos normalizar. Um que resolve conflitos com direitos e instituições, ou outro que prefere medo, exclusão e castigos em direto.
No fim, não votamos apenas para impedir um retrocesso. Votamos para afirmar que a democracia, com todas as suas falhas, ainda merece ser defendida, melhorada e levada a sério.