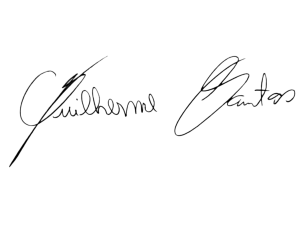O anúncio feito pelos Estados Unidos de uma operação militar em território da Venezuela, responsável pela captura de Nicolás Maduro, não é apenas um episódio grave da política externa contemporânea. Mesmo admitindo que alguns contornos da operação careçam ainda de confirmação plena e independente, o simples facto de uma potência assumir publicamente uma intervenção militar deste tipo já é, por si só, politicamente relevante e juridicamente perturbador. Não pelo nome do alvo, mas pelo precedente que se cria.
A Venezuela vive há anos sob um regime autoritário, marcado pela concentração de poder, pela repressão da oposição, pelo esvaziamento das instituições e por uma crise humanitária profunda. Este diagnóstico é amplamente documentado e raramente contestado. Reconhecê-lo não é um ato ideológico, é um exercício de honestidade política. Mas reconhecê-lo não autoriza um salto perigoso: o de concluir que, perante regimes considerados ilegítimos, o direito internacional deixa de se aplicar.
O direito internacional contemporâneo nasceu precisamente para limitar a arbitrariedade da força. A Carta das Nações Unidas foi concebida como resposta histórica à destruição causada por Estados que decidiram que os seus fins justificavam qualquer meio. O princípio da proibição do uso da força não existe para proteger ditadores, existe para proteger povos e para impedir que a política internacional seja regida pela lei do mais forte.
Neste caso concreto, não existe qualquer fundamento jurídico que legitime a intervenção. Não houve legítima defesa. Não existiu autorização do Conselho de Segurança. Não há enquadramento legal que permita a captura de um chefe de Estado estrangeiro fora de um processo judicial internacional reconhecido. Independentemente da avaliação política que se faça do regime venezuelano, a ação anunciada configura uma violação clara da soberania de um Estado e do princípio da não intervenção.
A comparação com a Ucrânia é inevitável, mas importa clarificá-la com rigor. Não se trata de estabelecer uma equivalência moral ou política entre regimes. Trata-se de uma comparação estritamente jurídica. Quando a Rússia invadiu um Estado soberano, a comunidade internacional mobilizou, e bem, conceitos como crime de agressão, violação da integridade territorial e ameaça à ordem internacional baseada em regras. Esses conceitos não podem ser aplicados de forma seletiva.
É aqui que o desafio deixa de ser apenas da esquerda democrática e passa a ser de todos os democratas. Liberais, conservadores democráticos, sociais-democratas e democratas-cristãos são confrontados com a mesma exigência fundamental: ou defendem o Estado de direito internacional quando ele se torna incómodo, ou admitem que os princípios que invocam são condicionais.
A reação europeia ilustra esta dificuldade. Multiplicam-se apelos à contenção, à estabilidade e ao diálogo, mas evita-se nomear a ilegalidade do ato. A linguagem torna-se vaga, prudente, quase administrativa. Portugal insere-se neste padrão, privilegiando a gestão diplomática do momento em detrimento da afirmação clara de princípios.
Perante este cenário, é legítimo perguntar qual é a alternativa à intervenção militar. A resposta não é simples nem imediata. Mas existe. Passa por pressão diplomática multilateral consistente, por sanções proporcionais e coordenadas, por mediação internacional credível e por apoio político à oposição democrática interna.
Podemos, e devemos, exigir uma transição democrática na Venezuela. O que não podemos é aceitar que o direito internacional se torne descartável sempre que se torna incómodo. Porque no dia em que a lei deixar de valer para todos, deixará de proteger qualquer um.