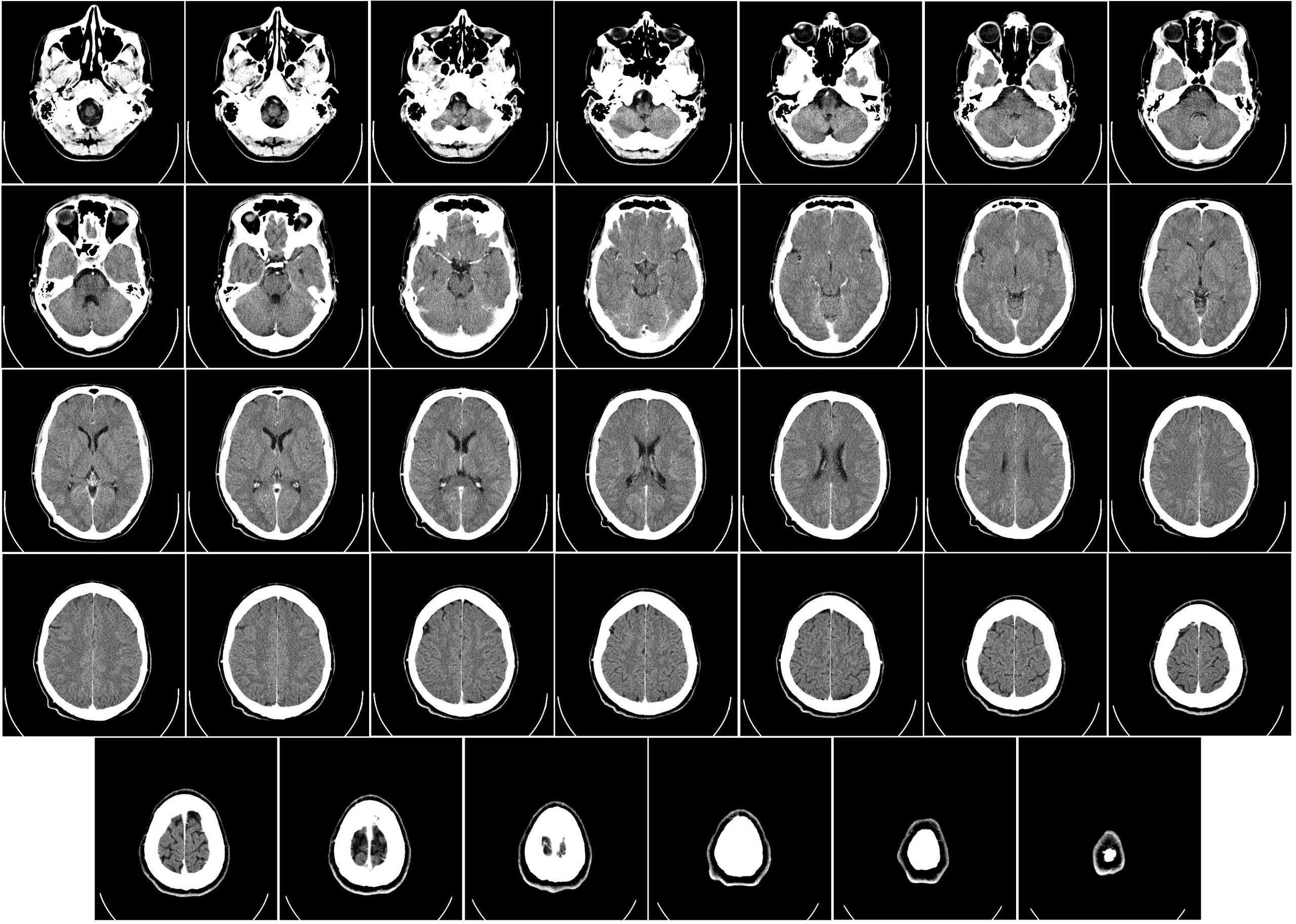A designação “patologia dual” transporta consigo uma solenidade quase administrativa, como se nomeasse um fenómeno distante da vida comum. No entanto, o que designa é profundamente concreto: a coexistência entre uma perturbação mental e um comportamento aditivo, quer se trate do consumo de álcool e outras substâncias, quer se trate — cada vez mais — das práticas de jogo a dinheiro, das raspadinhas às apostas desportivas e ao casino online. Estas formas de jogo, muitas vezes banalizadas no quotidiano português, funcionam como pequenas tecnologias de esperança instantânea: inocentes na aparência, mas capazes de se transformar em dispositivos rápidos de anestesia emocional. O que começa como passatempo converte-se em hábito; o hábito, em dependência; e a dependência, em sofrimento.
A história cultural parece ter compreendido esta articulação antes de a psicologia lhe dar nome formal. A literatura e a arte registam-na amplamente: Hemingway procurava no álcool um tampão para as suas convulsões internas; Fitzgerald oscilava entre génio e exaustão afetiva; Basquiat pintava como quem tenta estabilizar uma identidade sempre em risco. Estes casos, estudados e reconhecidos, não são romantizações da dor — são expressões daquilo que acontece quando o sofrimento psíquico e a procura desesperada de alívio se tornam indissociáveis. Aqui, a patologia dual não é metáfora: é diagnóstico vivido.
O mecanismo subjacente é conhecido e relativamente estável: o sofrimento emocional aumenta a probabilidade de recorrer ao consumo ou ao jogo; o consumo ou o jogo intensificam esse sofrimento. A pessoa tenta sair do ciclo, mas encontra-se continuamente arrastada de volta — uma oscilação circular que revela não falta de vontade, mas vulnerabilidade. A psicologia clínica portuguesa tem sido taxativa a este respeito: não se trata de um defeito de carácter, mas de um encontro entre sensibilidades biológicas, traços psicológicos e fatores sociais que, sob stress prolongado, convergem para soluções rápidas de regulação emocional. Como sustenta o modelo de vulnerabilidade–stress, ninguém escolhe a dor que lhe acontece; apenas tenta, com os recursos acessíveis, minorar o seu impacto.
Daí que a psicoeducação se torne um pilar essencial: compreender o ciclo aditivo, reconhecer a forma como o cérebro reage ao sofrimento e como os sistemas de recompensa respondem ao jogo a dinheiro, é frequentemente o primeiro passo para retirar culpa — e, ao retirar culpa, retirar peso. A mudança emerge melhor quando a pessoa a reivindica, e não quando lhe é imposta. Criar espaço para que a pessoa pense por si — e nesse espaço se sinta acompanhada — é, paradoxalmente, uma das estratégias mais ativas da psicologia contemporânea.
A psicoterapia, enquanto prática sustentada na ciência e na relação, torna-se aqui o eixo do processo. Não opera por milagre, mas por método: pela regularidade das sessões, pela formulação clínica, pela intervenção ajustada ao padrão emocional e comportamental de cada indivíduo. O psicólogo clínico desempenha, nesse contexto, um papel altamente especializado: não se limita a escutar; organiza, contém, devolve com precisão, desafia com segurança e afina progressivamente aquilo que a vida deixou desalinhado. A relação terapêutica — empiricamente reconhecida como o maior facto de eficácia — é, simultaneamente, continente e motor: é onde o sofrimento encontra linguagem e onde a mudança encontra campo para se tornar possível.
O jogo, em particular as raspadinhas, possui um carácter culturalmente específico no contexto português: um otimismo de bolso, acessível e silencioso, frequentemente interpretado como inofensivo. Contudo, quando inserido no quadro da patologia dual, este gesto aparentemente trivial adquire densidade clínica: já não é busca de sorte, é busca de silêncio — o silêncio breve que interrompe a dor. O problema nunca é a raspadinha em si; é a dor que ela tenta calar.
Os modelos portugueses de intervenção insistem — e com razão — que a recuperação é possível. Não se trata de um ato de heroísmo, mas de um trabalho integrado: tratar a perturbação mental, tratar o comportamento aditivo, tratar o jogo, tudo em simultâneo, respeitando a complexidade do sujeito e recusando abordagens fragmentadas. A patologia dual não duplica a pessoa; expõe apenas o quanto certas vidas se tornam mais pesadas sob determinados contextos. Mas mesmo as vidas pesadas se transformam quando recebem enquadramento clínico adequado, suporte relacional competente e um entorno que não desiste.
Se a psicologia pudesse articular a sua própria epistemologia em voz alta, dir-nos-ia que vale a pena intervir — não por otimismo, mas porque a evidência acumulada demonstra que, quando o processo clínico é conduzido com rigor, a mudança é estatisticamente previsível e clinicamente observável. A melhoria não surge por epifanias repentinas, mas pelo curso gradual próprio dos fenómenos de plasticidade psicológica: progressivo, estável, sustentado pela repetição significativa. Edifica-se sobre modelos teóricos robustos, técnicas empiricamente validadas, monitorização sistemática do progresso, ética profissional estruturante e uma afinação contínua ao perfil singular de cada pessoa. Mas é a relação terapêutica — essa variável relacional complexa, mensurável, fortemente preditiva dos resultados e reconhecida pela investigação como o núcleo ativo da mudança — que transforma conhecimento em eficácia. Nenhum manual a captura plenamente, mas é ela que, na prática, torna a cura não apenas possível, mas plausível.