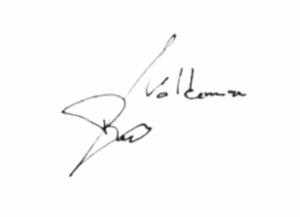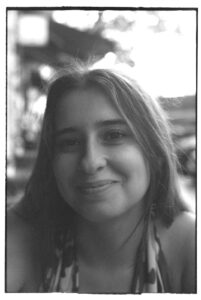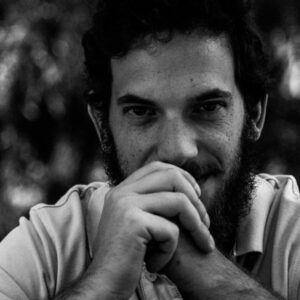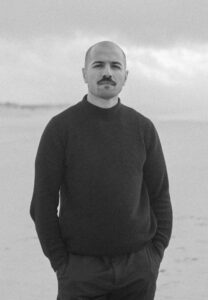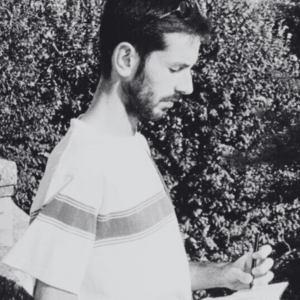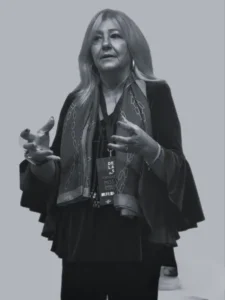Cultura! Tão querida por uns, tão defendida por outros. Mas saberemos mesmo o que é cultura? E não, não será neste artigo que vou propor mais uma definição sociológica de cultura, tentando balizar conceitos, redefinir as definições ou estabelecer um novo conceito. Mas temos de os clarificar à luz daquilo que a nossa rica tradição literária e de pensamento nos oferece.
A cultura não é um direito ao entretenimento, é um dever de elevação civilizacional. Esta verdade, dura e clara, perdeu-se num nevoeiro de boas intenções e bases filosóficas cujos resultados estão à vista. Sob a bandeira da diversidade, declarou-se guerra a uma inimiga imaginária – a hierarquia de valores –, e instalou-se a tirania do nivelamento. O mundo não ficou mais rico, pelo contrário, aplanou-se. Quando tudo é equivalente por decreto, nada tem valor especial.
De tese académica a dogma social, o relativismo cultural corroeu a faculdade de julgar. A ideia, com aparência generosa, de que nenhuma cultura pode ser apreciada por padrões alheios transformou-se em ácido que dissolve distinções fundamentais. Ao negar a existência de critérios universais de verdade ou de beleza, não se liberta ninguém. Na verdade, aprisiona cada um na sua perspetiva limitada sem espaço ao diálogo construtivo e elevado. O diálogo autêntico torna-se impossível, seja pela crítica, pela agressão, pela dificuldade em ouvir e tentar perceber os outros, e a erosão do juízo tornou-se o primeiro passo para a mediocridade generalizada.
In extremis, o relativismo parte do axioma de que todos os sistemas de valores são arbitrários. O resultado imediato é a equivalência forçada, por exemplo, de que a sinfonia de Mahler e de que o jingle publicitário popular são gostos pessoais e não passíveis de medir ou valorar esteticamente. E isto não é democratização. É destruição! A cultura vive de hierarquias de realização, não de hierarquias de pessoas. Sem padrões, a própria linguagem do mérito apaga-se, confunde-se com número de likes, seguidores, e não com excelência artística.
Deste igualitarismo descomprometido emergiu uma era de indefinição estética. Que não é de agora; na verdade, a desconstrução estética tem o seu prelúdio nos pós-I Guerra Mundial, mas o seu exacerbamento já não tem o mesmo fundamento crítico que tinha 100 anos antes. A indústria do entretenimento, com o seu metabolismo acelerado, exporta uma uniformidade global de consumo rápido, depurada da complexidade e do potencial transformador. Confundir arte que exige com produto que distrai é condenar a cultura à superfície.
É verdade que a grande retórica que se tem desenvolvido celebra a diversidade cultural. Mas, ao transitar de princípios para políticas, abriu-se espaço para mal-entendidos e instrumentalizações. A Convenção da UNESCO de 2005 nasce para proteger e promover a diversidade de expressões culturais. E consagra, no seu próprio texto, que esta proteção só é legítima quando os direitos humanos e as liberdades fundamentais são garantidos, e que ninguém pode invocar a Convenção para restringi-los. Ainda assim, a prática administrativa e a legislação derivada, em muitos contextos, deslizaram para a proteção indiferenciada, confundindo defesa do plural com abdicação do critério. E esta é uma leitura que a doutrina tem problematizado justamente no ponto de tensão entre diversidade e universalismo de direitos. O efeito político é conhecido: o nivelamento sob o manto da cultura.
As consequências não são apenas estéticas, diria que até são éticas. Quando recusamos um padrão universal de julgamento, a crítica moral fica desarmada perante práticas que violam direitos humanos básicos. Seja a mutilação genital feminina ou o casamento infantil, que são frequentemente defendidos, nesta óptica, como tradições. Contudo, a realidade é inapelável e não vive apenas nos livros de sociologia ou nos memorandos de grandes instituições internacionais. Falamos de mais de 230 milhões de raparigas e mulheres que foram submetidas a mutilação genital no mundo, e cerca de 640 milhões de mulheres e raparigas hoje vivas casaram antes dos 18 anos. Não estamos perante costumes neutros, mas violações graves elevadas à categoria de herança. Tolerar, aqui, é pactuar. E o relativismo instalado na nossa sociedade é o principal culpado, tal como todos os que o apoiam.
A fragmentação identitária agrava todo este quadro e, sob a luz da nossa tradição literária, podemos inspirar-nos em Francis Fukuyama1. Este diz-nos que, quando a política deixa de ser a disputa de projetos universais para se tornar a soma de pertenças ofendidas, o comum evapora-se e a coesão degrada-se. A multiplicação das microtribos – ou como gostamos de afirmar actualmente, da polarização –, cada uma entrincheirada na sua verdade, é inimiga de qualquer horizonte partilhado – logo, inimiga de uma cultura que pretenda elevar, e não apenas entreter.
O sistema educativo, ao abandonar o cânone das grandes obras, retira aos jovens o melhor instrumento de emancipação, e que é uma gramática comum de referências. Já Matthew Arnold2 lembrava a missão de expor os cidadãos “ao melhor que foi pensado e dito”, e assim, ao amputar essa herança, fabricamos gerações incapazes de dialogar com o passado e, portanto, de arquitetar um futuro comum. A universidade deixa de ter como base a busca da verdade e converte-se em campo de batalha de narrativas intransigentes.
A resposta a este pântano não é restaurar dogmas cegos, mas recuperar a coragem de julgar e de pensar de forma crítica. Outro autor, Roger Scruton3, insistiu que a tradição não é peso morto, mas, sim, a conversa viva com os nossos antepassados, fonte de continuidade e de padrões. A beleza não é capricho subjetivo. É experiência que nos arranca ao imediato. E é por isso que os padrões estéticos são instituições morais da civilização. E sem eles, não há progresso cultural. Há apenas ruído.
Distinguir entre arte que eleva e entretenimento que distrai não é elitismo. É justiça para com a obra e respeito pelo público. A arte requer esforço, dos dois lados. O entretenimento pede passividade. Confundir estes níveis não democratiza, pelo contrário: infantiliza! Reconhecer a complexidade, técnica, formal e a densidade simbólica é defender as condições em que a excelência floresce, seja de qualquer pessoa, e em qualquer lugar.
O relativismo, longe de proteger as minorias culturais, condena-as à irrelevância. Sem padrões que avaliem e promovam a realização, a paisagem enche-se de ruído, e o mercado privilegia o que grita mais alto, não o que vale mais. Transformam-se tradições vivas em vitrines folclóricas, e confunde-se proteção com museificação.
E é preciso deixar claro: a cultura não é uma montra de preferências instantâneas, e sim a disciplina comum. É o esforço organizado de uma civilização para se exceder a si própria e aproximar-se do verdadeiro, do bom e do belo. Legar às próximas gerações um mundo culturalmente rico, em vez de uniformemente medíocre, exige escolhas. Exige reafirmar que nem tudo tem o mesmo valor, que a diversidade pede critérios, e que o pluralismo não sobrevive sem a particularidade.
O caminho mais justo não passa por nivelar, mas por distinguir. Políticas culturais que distinguem mérito artístico e missão formativa, com currículos que restituem as grandes obras nacionais e universais, a crítica cultural exigente nos media e nas instituições, e o financiamento público que obriga a responsabilidade estética, moral e ética. Esta gramática não exclui ninguém, dá a todos a chave de entrada num património que é de todos e que não pode ser rescrito.
Repito, a cultura não é um direito ao entretenimento. É um dever de elevação civilizacional. Cumpramo-lo com coragem de julgar, generosidade de aprender e ambição de elevar.
Referências