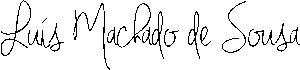Não é só uma barraca que vai abaixo. É uma vida. Um abrigo precário, mas um abrigo. Um lugar onde alguém cozinhou, onde uma criança brincou, onde se ouviu música e se rezou por dias melhores. Não é só uma barraca, é o último recurso de quem já foi empurrado de todos os lados. Quando a Câmara chega com as máquinas e com a pressa do cimento novo, não está apenas a demolir estruturas frágeis de zinco e madeira: está a declarar que essas vidas não cabem na cidade que se quer construir.
Em Loures, a demolição das barracas foi feita sem resposta. Sem alternativa. Sem transição. Como se fosse possível apagar um problema empurrando-o para fora da vista. Como se a ausência de uma casa fosse um castigo justo por não se ter tido outra hipótese. As imagens que nos chegam não são novidade, mas continuam a ser chocantes: crianças desalojadas, famílias sem teto que veem cair o pouco que tinham. Tudo isto em nome da “ordem urbana” ou do “plano de requalificação”. Mas que requalificação é esta que exclui quem mais precisa de cuidado?
A crise da habitação em Portugal não começou em Loures e não termina nas barracas. É mais funda, mais sistémica, mais insidiosa. A habitação, direito básico consagrado na Constituição, foi lentamente transformada num ativo financeiro, num investimento, num luxo. As casas deixaram de ser para morar e passaram a ser para render. Rendem mais se ficarem vazias à espera de valorização do que se forem arrendadas a quem delas precisa. Rendem mais nas mãos de fundos imobiliários do que nas mãos de famílias. E quanto mais escassa a oferta pública, maior o lucro da especulação.
Não é por acaso. É um sistema que concentra riqueza e esvazia cidades. Que deixa bairros inteiros entregues ao turismo enquanto empurra os moradores para as periferias e depois para o nada. E, quando essas pessoas constroem, com as suas próprias mãos, uma solução de emergência — uma barraca — o Estado, que devia ter estado lá antes, aparece por fim… para mandar demolir. Para riscar do mapa o que nunca quis ver.
Fala-se em “ilegalidade” como se isso bastasse para justificar o despejo. Mas é legal o abandono? É legal um país ter tantos edifícios devolutos e tão pouca habitação acessível? É legal deixar a especulação comandar o planeamento urbano? É legal dizer a uma família com crianças que não tem para onde ir? A “legalidade” torna-se um argumento cínico quando serve apenas para proteger a propriedade e ignorar a dignidade humana.
A solução não é nova nem misteriosa. Já se conhece: mais habitação pública, mais arrendamento acessível, mais investimento nas periferias esquecidas, mais política com rosto humano. Mas a resposta continua a ser lenta, tímida, quase simbólica. Em vez disso, temos conferências e promessas. E, do outro lado, máquinas a trabalhar depressa. A pressa do mercado é sempre maior do que a urgência da justiça.
Talvez devêssemos perguntar: quem é que perturba mais a cidade: quem constrói uma barraca para não dormir na rua ou quem constrói prédios de luxo que ficam vazios? Quem ameaça mais a coesão social: uma família que sobrevive como pode ou um modelo económico que trata a casa como um privilégio e não como um direito?
O que se passou em Loures não é apenas um erro de gestão. É um espelho. Mostra-nos a que ponto a política se distanciou da vida concreta das pessoas. Mostra-nos como é fácil retirar direitos quando os corpos são pobres, quando os sotaques são estrangeiros, quando as casas são frágeis. Mostra-nos que a verdadeira crise não é a da habitação — é a da empatia.
Porque o verdadeiro colapso de uma cidade não acontece quando se constroem barracas. Acontece quando se aceita que uns merecem casa e outros não. Quando se acha normal ver uma família na rua e seguir caminho. Quando se torna mais urgente proteger a paisagem urbana do que as pessoas que nela vivem.
Não é só uma barraca. É uma fronteira invisível entre quem pode habitar a cidade e quem só pode sobreviver nela. E, enquanto aceitarmos que isso seja normal, a demolição maior será sempre a da própria ideia de comunidade.