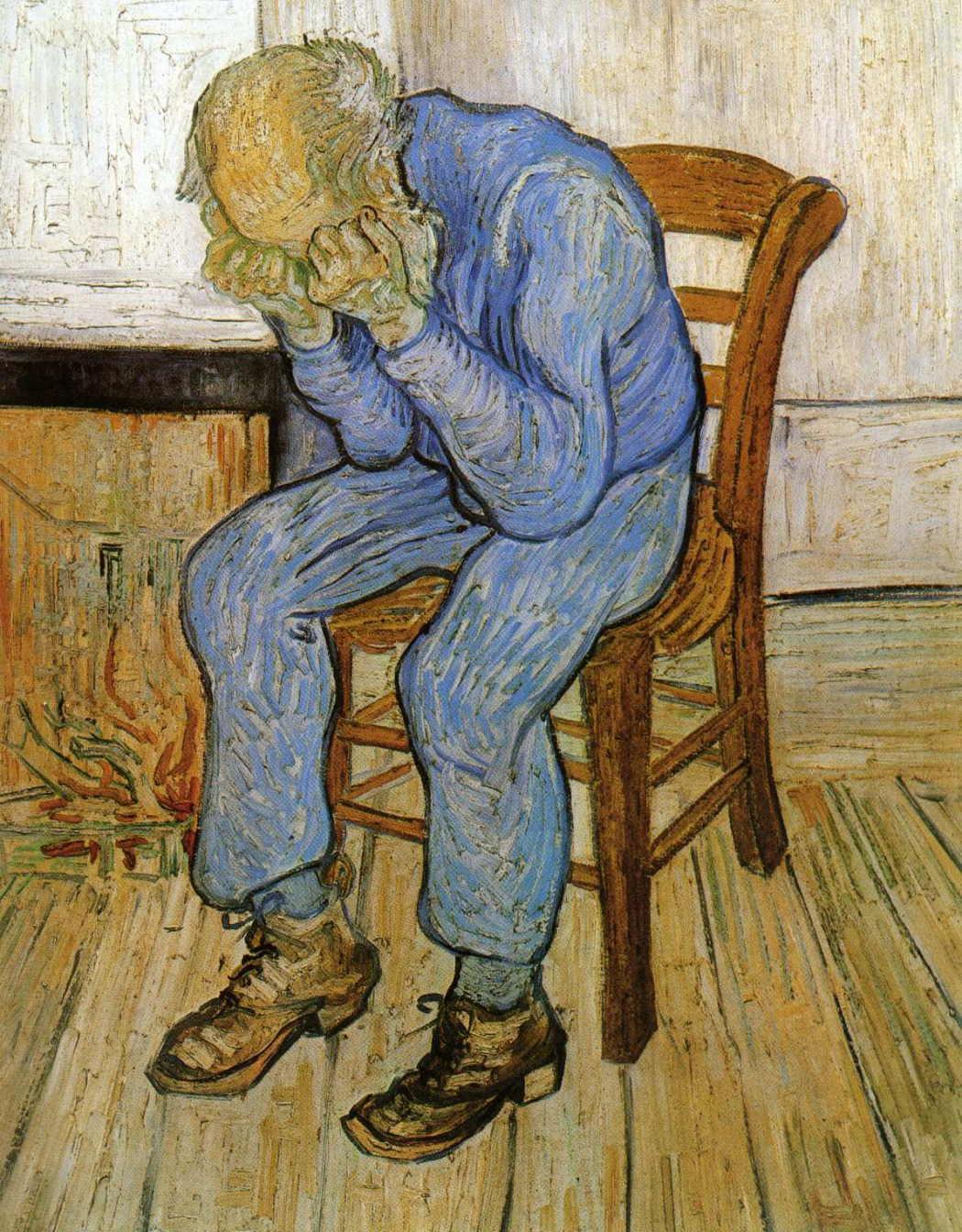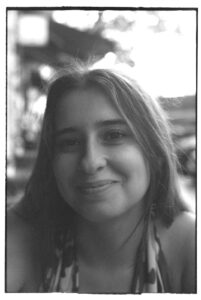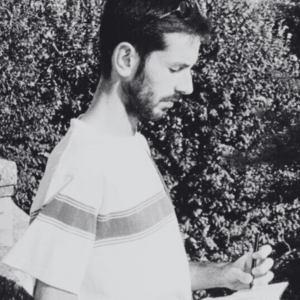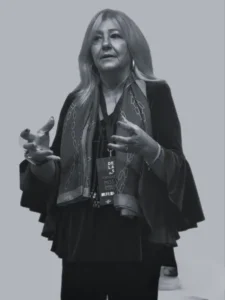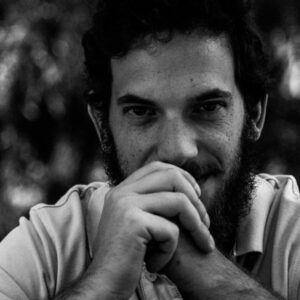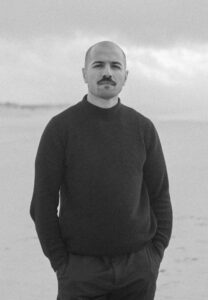Terminei há pouco a visualização da série documental Caça ao Homem: Osama Bin Laden na companhia da minha família, o que só torna mais irónico o conteúdo apresentado: um relato bélico, de espionagem, de morte e de glória nacionalista. O primeiro episódio, que pretende contextualizar os antecedentes dos atentados de 11 de Setembro, apresenta-se como um exercício de jornalismo amador. Pouco mais do que uma colagem de arquivos, sem grande profundidade interpretativa, e com uma linearidade narrativa que pouco ou nada acrescenta ao que já se conhece. A tese implícita – e aqui o documentário não se coíbe de o sugerir – é que o governo dos Estados Unidos, e em particular o presidente George W. Bush, tinha conhecimento prévio de que a Al-Qaeda preparava “algo grande”. Não sabiam o “quê”, nem o “quando”, mas sabiam que viria. E veio.
O segundo episódio, mais breve, funciona como uma espécie de intervalo narrativo, sem grande substância, e centra-se nas operações falhadas que tentaram localizar e eliminar Bin Laden. Trata-se de um momento de suspensão, de espera tensa antes do clímax.
E esse clímax chega com o terceiro episódio, que assume contornos cinematográficos quase perfeitos. Aqui, a série transforma-se numa peça de entretenimento com a estrutura clássica de uma narrativa heróica: a descoberta de Bin Laden num complexo paquistanês, o planeamento meticuloso da operação da CIA, e por fim, a execução – literalmente – do inimigo número um da América. Tudo filmado com perícia técnica, com banda sonora apropriada, e com aquele verniz de realismo que apenas serve para reforçar a verosimilhança do mito.
Mas o que se impõe no final da visualização, mais do que qualquer assombro técnico, é a clara sensação de se estar perante um exercício propagandístico de alta sofisticação. A narrativa maniqueísta do “bem” contra o “mal” atravessa cada minuto da série. Os Estados Unidos surgem como a eterna força do bem, o defensor da ordem, o vingador das vítimas, o paladino da liberdade mundial. Ora, esta fábula tem tanto de eficaz como de insidiosa. Não há aqui espaço para zonas cinzentas, nem para interrogações éticas. A violência americana é sempre justa, necessária, proporcional – e sobretudo redentora.
É neste ponto que o documentário falha – ou melhor, triunfa, dependendo do seu objetivo. Porque se o intuito era glorificar o poder militar e ideológico dos EUA, então cumpre a sua missão com rigor. Mas se o propósito era analisar criticamente a figura de Bin Laden e as complexas raízes do conflito afegão, então a série nada mais é do que uma peça oca de entretenimento travestido de história.
E não é por acaso que convido o espetador a recuar a 1979. Não por uma fixação nostálgica, mas porque nesse ano se desenha o prelúdio da tragédia. Foi nesse ano que os EUA, no auge da sua estratégia de contenção do comunismo, financiaram, armaram e incentivaram os mujahidins afegãos, de onde brotariam mais tarde figuras como Osama Bin Laden. Jogaram o seu xadrez imperial com peões que viriam a tornar-se reis negros. O 11 de Setembro, nesse sentido, não foi apenas um ataque, foi o retorno do veneno à boca de quem o espalhou.
Tudo isto se insere num padrão mais vasto: o da construção do imaginário imperial norte-americano. Os EUA vendem-se como a última esperança da humanidade, o justiceiro do mundo, o árbitro moral do planeta. Mas o seu conceito de justiça raramente é acompanhado de balanças. Traz, isso sim, um arsenal de mísseis, drones e operações clandestinas. A justiça americana, tal como representada nesta série, é brutal, unilateral, indiscutível – e invariavelmente branca.
E como não reparar na coincidência? Esta produção foi lançada num contexto histórico peculiar: durante a administração Trump. Claro que não nos cabe sugerir aqui nenhuma teoria conspirativa – Deus nos livre da paranoia dos “QAnons” do costume – mas há uma ironia demasiado elegante para ser ignorada. Que esta exaltação da superioridade americana tenha sido exibida no exato momento em que a presidência de Trump mergulhava os EUA num discurso populista, agressivo e belicista, só pode ser interpretado como um alinhamento simbólico, ainda que involuntário. É como se a própria narrativa oficial precisasse de se reafirmar, com pompa e circunstância, face ao colapso da sua legitimidade interna. Carter falou de uma crise de confiança em 1979;1 Trump, em 2025, retomou o mesmo léxico, mas tingido de rancor e divisão. A excecionalidade americana, afinal, não é senão o reflexo do seu medo de deixar de o ser.
E assim, entre fantasmas do passado e fantasias imperiais, perpetua-se o mito da América justa, da América redentora, da América invencível. Um mito que se vende em episódios de 45 minutos, com legendas em português e efeitos sonoros calibrados para criar emoção. É Hollywood, mas com selo documental.
Referências bibliográficas:
1. Hobsbawm, E. J., Santarrita, M., Madureira, M., & Madureira, C. (2002). A era dos extremos: História breve do século XX 1914–1991 (3.ª ed.). Presença.
2. July 15, 1979: «Crisis of Confidence» Speech | Miller Center. (2016, outubro 20). University of Virginia – Miller Center. https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/july-15-1979-crisis-confidence-speech
3. Kershaw, I., & Costa, M. F. da. (2018). Continente dividido: A Europa, 1950–2017. Dom Quixote.