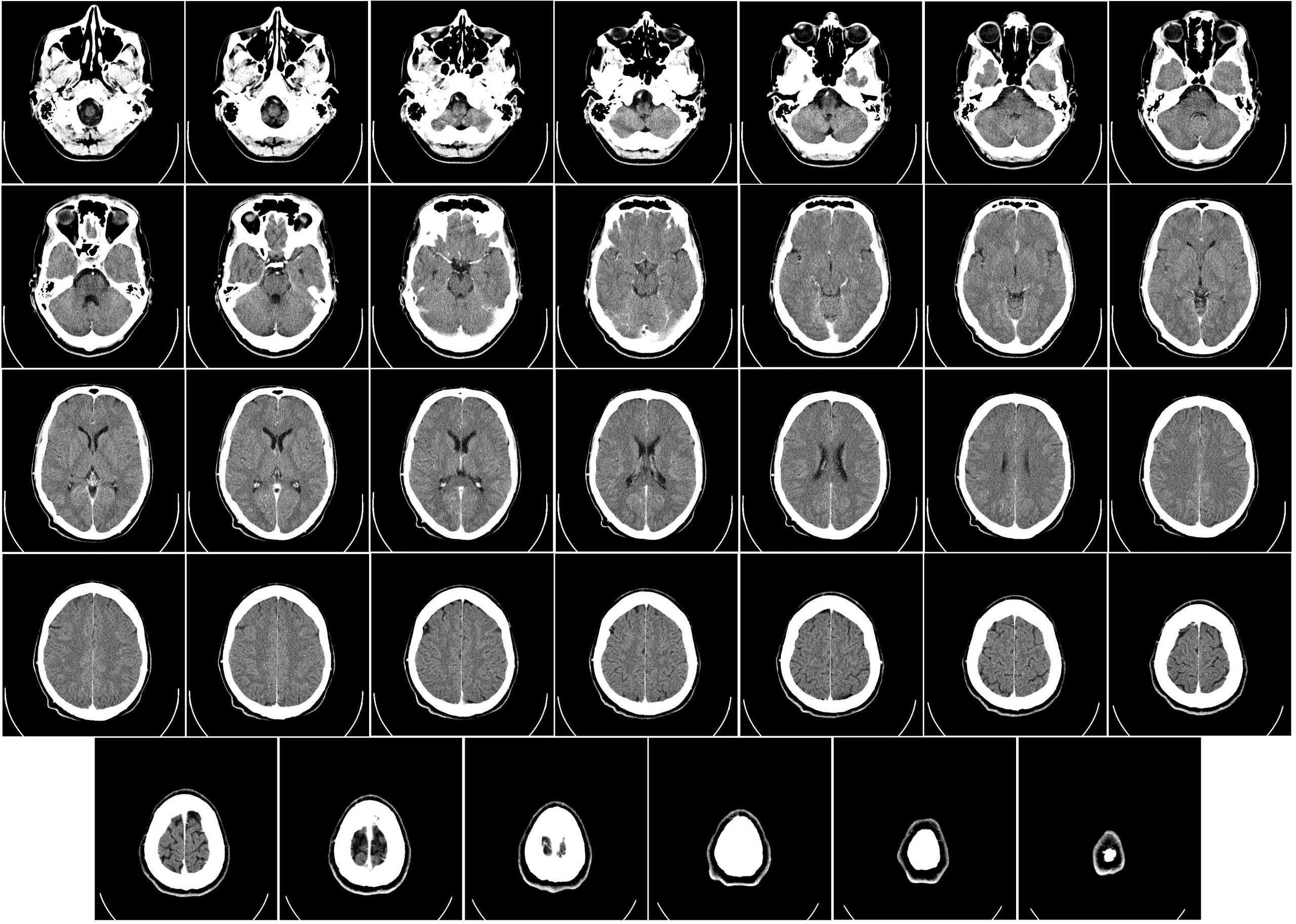A coisa mais bela da democracia — e talvez a mais assustadora — é que não se precisa de uma carta para a conduzir. Para levar um Fiat Punto de 1998 à padaria, são exigidos exames, testes de reflexos e um instrutor que se passa com o uso excessivo da embraiagem. Para eleger quem governa um país, basta ter nascido e atingido a maioridade.
Esta liberdade é tão magnífica quanto aterradora. Afinal, qualquer um pode votar. Qualquer um pode decidir quem governa, mesmo sem nunca ter aberto um jornal ou estudado a diferença entre défice e dívida. A democracia confia cegamente no julgamento coletivo, mesmo quando este pode ser guiado por desinformação, manipulação emocional e promessas vazias. E é justamente nessa brecha que os populistas se instalam, transformando o voto num jogo de ilusões.
O direito ao voto, muitas vezes tratado com leviandade, foi historicamente uma conquista árdua. Durante séculos, a participação política foi um privilégio de poucos — uma exclusividade dos ricos, dos nobres, dos proprietários de terras. Na Inglaterra do século XIX, por exemplo, menos de 5% da população masculina podia votar, e apenas aqueles que possuíam propriedades de certo valor.1 Mulheres? Nem pensar. Mesmo em democracias avançadas, como os Estados Unidos, o sufrágio universal foi um conceito tardio: só em 1965, com o Voting Rights Act, foi assegurado que todos os cidadãos afro-americanos pudessem votar sem restrições discriminatórias.
As mulheres tiveram que lutar ferozmente pelo direito ao voto. Em 1893, a Nova Zelândia tornou-se o primeiro país a conceder o sufrágio feminino, mas outras nações demoraram décadas para seguir o exemplo. A França, berço da revolução e dos ideais de liberdade, só reconheceu esse direito às mulheres em 1944. Na Suíça, um país que muitos veem como exemplo de democracia, as mulheres só puderam votar em âmbito nacional em 19712.
Olhando para essa trajetória, a pergunta inevitável é: será que estamos à altura do direito que tantos lutaram para conquistar?
Há quem defenda que a democracia deveria exigir um mínimo de qualificação dos eleitores. Afinal, faz sentido que alguém que não sabe como funciona a economia de um país decida sobre o seu futuro financeiro? Será razoável que um eleitorado sem conhecimento de História vote em líderes que relativizam crimes do passado?
A ideia de “testes para eleitores” já foi defendida por intelectuais, mas é uma faca de dois gumes. Quem definiria os critérios? Quais conhecimentos seriam considerados essenciais? E quem garantiria que esses exames não seriam usados como uma ferramenta de exclusão social?
A história mostra que tentativas de limitar o direito ao voto sempre favoreceram os grupos dominantes. No sul dos Estados Unidos, testes de alfabetização foram amplamente usados para barrar eleitores negros até a década de 19603. Em muitos países, exigências financeiras e educacionais foram pretextos para manter o poder nas mãos da elite.
A verdade é que a ignorância política não é um erro do sistema; é um dos combustíveis que o mantém em funcionamento. Governantes incompetentes dependem de eleitores desinformados para se manterem no poder. A despolitização é uma ferramenta poderosa, e o populismo prospera exatamente onde há desinteresse e desconhecimento.
Eis o paradoxo: todos falam da importância do pensamento crítico, mas poucos realmente querem promovê-lo. É fácil encontrar políticos e instituições que dizem defender a educação, mas que, na prática, preferem um eleitorado que não questione muito. Um cidadão bem informado é uma ameaça ao status quo.
O pensamento crítico é como um condutor prudente: observa os sinais, analisa as condições da estrada, não acelera por impulso. No entanto, ninguém ensina essa habilidade da mesma forma que se ensina gramática ou geometria. A escola ensina fórmulas, nomes de rios e datas de batalhas, mas raramente ensina como identificar falácias argumentativas, como questionar discursos políticos ou como reconhecer fake news.
E assim, seguimos dirigindo a democracia sem exame de condução, muitas vezes sem sequer olhar para o retrovisor da história.
O sistema tem falhas? Sim, muitas. Mas qual é a alternativa? Pedir atestados de inteligência para votar? Implementar exames de conhecimento político? Exigir que todos leiam Aristóteles e Platão antes de escolher o próximo Governo?
A verdade é que não há solução perfeita. A democracia, como um carro sem travões, exige que os condutores sejam cautelosos por conta própria. O risco sempre existirá, mas cabe a cada um decidir se quer conduzir com juízo ou se prefere deixar o volante nas mãos de quem acha que ultrapassar pela direita é uma grande ideia.
Afinal, a política é como o trânsito: há os prudentes, os distraídos, os apressados e os que ignoram todas as regras. Mas, no fim, estamos todos na mesma estrada. Se não quisermos acabar numa valeta, talvez seja melhor aprender a ler os sinais.
Referências
- Felipe Ferreira Lima Lins Caldas.(2014). “Brasil e Portugal: A Evolução do Direito ao Sufrágio na Primeira Metade do Século XIX”. Disponível em https://www.cidp.pt/revistas/ridb/2014/06/2014_06_04075_04136.pdf ↩︎
- Redação DN. “Elas Vão Preferir Ficar Em Casa : Há 125 Anos as Mulheres Votaram Pela Primeira Vez.” Diário de Notícias, 19 Sept. 2018. Disponível em www.dn.pt/arquivo/diario-de-noticias/elas-vao-preferir-ficar-em-casa-ha-125-anos-as-mulheres-conquistaram-o-direito-ao-voto-9873634.html ↩︎
- Volle, Adam. “Literacy Test | Voting Discrimination | Britannica.” Encyclopædia Britannica, 2019, Disponível em: www.britannica.com/topic/literacy-test. ↩︎